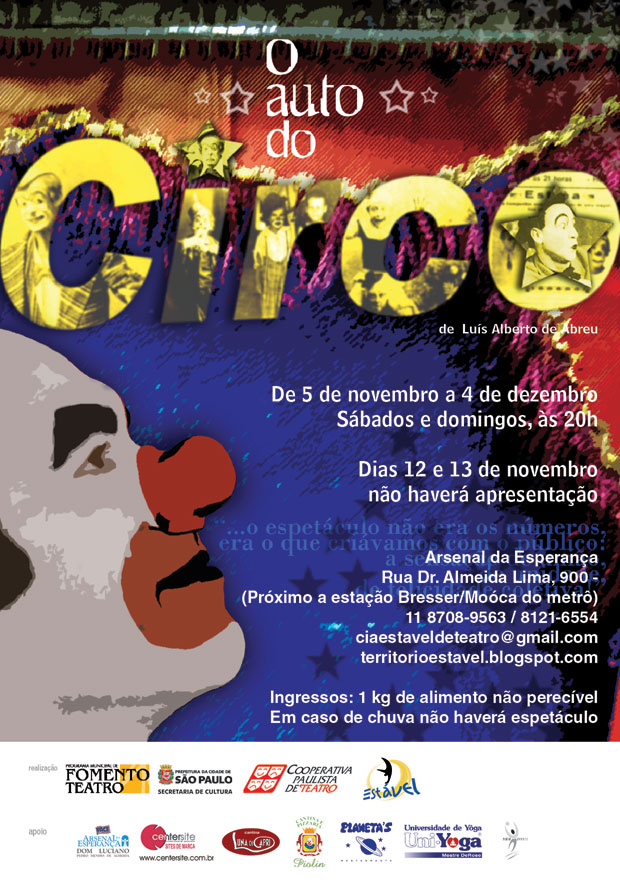O Coletivo Cinefusão surge, no final de 2008, a partir da iniciativa de trabalhadores de diversas áreas - cinema, jornalismo, publicidade, artes cênicas, filosofia, arquitetura, fotografia -, empenhados em criar primeiramente uma rede colaborativa que pudesse dar conta da junção dessas linguagens e também da possibilidade de abarcar potencialidades em busca de produção artística independente, mas também de reflexões concretas acerca da sociedade. É principalmente sobre este último pilar de atuação política, que o grupo vem, atualmente, pensando o cinema, sempre vinculado a outras expressões artísticas e movimentos sociais.
quinta-feira, 22 de dezembro de 2011
quarta-feira, 21 de dezembro de 2011
Também é Natal na cracolândia.
(o natal existe: todo o Mundo é triste)
O Natal chegou, mais uma vez.
As frases de efeito, chavões, clichês,
lugares comuns, etc. que se erguem contra o Natal, povoando o imaginário
daqueles que aparentemente detestam o capitalismo, converte-se naturalmente em
bloqueio à verdadeira crítica da mercadoria. A revolta assim se
transforma em papagaiada, mesmices, do tipo: o natal é a festa da hipocrisia!
Nos porões da nossa consciência existe um saco cheio - e vermelho! - dessa ideologia reciclada, que, no fundo, não passa de mais uma atração das festividades natalinas. De fato, o natal já não incomoda tanto quanto os seus críticos
morais de plantão.
A hipocrisia, o parco entusiasmo do trabalhador analfabeto, despolitizado e dominado pela ideologia (petista) do consumo, é infinitamente menos corrosiva do que a hipocrisia histérica da classe-média, que se auto-intitula “reflexiva”. Quem são eles? Nós: artistas, estudantes de Humanas, professores universitários, agitadores culturais, etc. etc. Chamar de corja esse segmento social, por seu pedantismo parasitário, pode parecer um insulto contraditório. No entanto, muito cuidado leitor: sentir-se insultado com o xingamento é provar justamente sua exatidão! Contente-se com a verdade, e não tenha medo em ser a exceção da regra. Enfrente sua caganeira cheirosa... cagão!
A hipocrisia, o parco entusiasmo do trabalhador analfabeto, despolitizado e dominado pela ideologia (petista) do consumo, é infinitamente menos corrosiva do que a hipocrisia histérica da classe-média, que se auto-intitula “reflexiva”. Quem são eles? Nós: artistas, estudantes de Humanas, professores universitários, agitadores culturais, etc. etc. Chamar de corja esse segmento social, por seu pedantismo parasitário, pode parecer um insulto contraditório. No entanto, muito cuidado leitor: sentir-se insultado com o xingamento é provar justamente sua exatidão! Contente-se com a verdade, e não tenha medo em ser a exceção da regra. Enfrente sua caganeira cheirosa... cagão!
***
“O natal chegou mais uma vez”. Esta frase
conserva um conteúdo ideológico gritante, e ensurdecedor. A sensação de
imutabilidade, de que nada acontece e de que vivemos numa realidade imóvel, é
um dos resultados mais perversos, no nível da consciência, que o veneno da
mercadoria produz. O efeito é tão devastador e vertiginoso que beira a loucura:
repetem-se detalhadamente os mesmos comportamentos, ano após ano...
Ainda estamos no ano passado? O ano passou,
ou tudo não passa de uma eterna véspera – eterna temporada no
inferno do consumo?
Os mecanismos que conformam o aparelho mental
de um consumidor padrão assemelham-se enormemente aos de um viciado em crack:
comportamento repetitivo, uniformização assustadora das funções motoras,
incapacidade de comunicação, redução da capacidade cognitiva, confusão mental,
sensação repentina de sufocamento, irritabilidade, etc.
Para o viciado, o efeito da droga de certa
forma é permanente. Toda a sua vida, nos dias em que não está sob efeito da
droga, é uma espécie de odisséia (com toda ironia) que só faz sentido quando o
objetivo é alcançado: o consumo. Essa é a medida palpável de onde devemos
partir: a experiência sensível das pessoas, e não de esquemas morais inócuos.
Uma festividade voltada ao consumo, no reino
absoluto da mercadoria, aparece necessariamente como um verdadeiro caos moral.
Não pode ser de outro modo. A dissolução ética em curso é plenamente
compreensível à luz das forças cegas de acumulação do capital, que regem os
anseios mais subjetivos das pessoas. Espantoso, nesse sentido, é ainda nos
espantarmos com isso. O nível moral só se presta à constatação do óbvio,
exemplo simples para fins pedagógicos.
Mas, justamente no nível mais sensível à
consciência podemos observar que as coisas mudaram, e mudam, ao contrário do
que parece. Primeiro: a derrocada cultural, ou o reforço diário da ideologia do
consumo, não esbarra num grau zero de destruição subjetiva – pelo contrário:
seguindo-se até as últimas conseqüências a marcha só será interrompida por uma
destruição definitiva da base social que lhe sustenta: o fim da própria
civilização humana.
O natal, nesse sentido, serve para alguma
coisa: é um termômetro. Todos percebem, ou “sentem”, que as “festas” do ano
atual mudaram em relação ao ano anterior. Difícil é confessar que mudam pra
pior. Seja como for: trata-se de uma expressão simples, mas altamente
reveladora do ritmo pelo qual nos aproximamos de um abismo irreversível.
De outro lado, a crise, alastrando-se em
ondas sucessivas e cada vez mais largas de desemprego em massa, medidas
econômicas restritivas contra a classe trabalhadora, etc. O Brasil afundará em
breve... Com o seguinte desconto, que parece tornar imperceptível o efeito da
crise: a miséria atual extrema de algumas nações européias não é novidade para
nós: o desemprego aqui é crônico, e a miséria permanente. Mas, como foi dito, o
buraco é sem fundo...
No telejornal do meio-dia, mostraram a imagem
de uma rua do centro da cidade de São Paulo. Como um formigueiro, pessoas
moviam-se aparentemente sem rumo. A jornalista hesitou por reveladores
milésimos de segundos. Cracolândia, ou 25 de março? O editor deu a informação,
e o tom do informe, imediatamente, revelou-se eufórico... De fato, como não
pensávamos, era a rua do comércio feliz. Mas um silêncio fúnebre se manteve
indisfarçável... Resquícios de uma dúvida sinistra. Visto de certo ângulo, o cinismo é digno de pena.
João .
Roberto Piva - A Piedade
Filme com Roberto Piva e vozes de Jim Morrison, Willian Burroughs, Patti Smith Jack Kerouac, Antonin Artaud. Músicas de Stockhausen, Lou Reed e Morfine.
sexta-feira, 16 de dezembro de 2011
quinta-feira, 15 de dezembro de 2011
segunda-feira, 12 de dezembro de 2011
Escravos de Zara
Ação direta realizada em 10 de dezembro, dia de comemoração do aniversário da publicação da Carta Universal dos Direitos Humanos, contra a franquia espanhola ZARA, que mantém trabalhadores em regime de escravidão.
Veja a reportagem completa - no link abaixo-, e entenda mais como essa empresa- que só é uma entre tantas empresas, corporações - mantém os trabalhadores em regime escravo.
http://www.reporterbrasil.org.br/exibe.php?id=1925&name=Roupas-da-Zara-s%E3o-fabricadas-com-m%E3o-de-obra-escrava
Veja a reportagem completa - no link abaixo-, e entenda mais como essa empresa- que só é uma entre tantas empresas, corporações - mantém os trabalhadores em regime escravo.
http://www.reporterbrasil.org.br/exibe.php?id=1925&name=Roupas-da-Zara-s%E3o-fabricadas-com-m%E3o-de-obra-escrava
domingo, 11 de dezembro de 2011
quinta-feira, 8 de dezembro de 2011
"Pasolini passou aqui"
O autor da ação (confira vídeo acima) é um artista paulistano. Ele topou dar uma entrevista, por e-mail, ao blog. Antes, fez algumas ressalvas, que reproduzo a seguir:
“sobre o meu nome pensei bem e não gostaria que aparecesse mesmo.
não por omissão, mas pela coerência da proposta.
gostaria de assinar com um endereço eletrônico:
www.exorcity.pravida.org
o que acha?
de qualquer maneira gostaria de colocar o link junto do texto.
sei que será praticamente impossível
isso sair na íntegra no impresso
mas fico na expectativa que ao menos no eletrônico
não haja cortes.
tomei algumas liberdade de escrita
por exemplo:
escrever pixação com x (de pixel)
e não com ch (de piche)
utilizei a palavra pixo também muitas vezes”
Isto posto, publico a nota na coluna impressa da edição de hoje da seção ‘Paulistices’. E, a seguir, a íntegra da entrevista:
Por que “Pasolini Passou Aqui”?
Perigoso explicar. A expressão “Pasolini passou aqui” se auto-explica e, precisamente, naquele espaço, estimula múltiplas interpretações. O que posso afirmar, percebendo a recepção das pessoas, é que ao menos duas questões primordiais são levantadas: a primeira (definição da denúncia), como assim acabou o cinema e ninguém faz nada? a segunda, não menos importante: quem que é esse Pasolini? Um grupo de pixo? Fato é que o cine belas artes encontra-se agora desfigurado como desfigurado fora o rosto de Pasolini naquele novembro horrendo de 1975 (quando o poeta do cinema, de porte e postura, foi atropelado de maneira perversa, sob a pecha de comunista emporcalhado). “Pasolini passou aqui”, é obvio, porque os filmes dele foram ali exibidos, “Pasolini passou aqui” porque esse é o espírito da pixação: o do “fulano passou por aqui”, “Pasolini passou aqui” porque o espírito Pasolini passou por mim: psixografei-o. Atropelo cinema X atropelo Pasolini. Para alertar os desmemoriados.
Como surgiu a ideia de escrever essa frase na fachada do Belas Artes?
Muros são como túmulos: merecem epitáfios; e morremos todos os dias entre os muros. Penso que jamais devem haver retrocessos nesses aspectos: nunca um muro a mais, sempre um muro a menos: nunca um cinema a menos. A ideia de uma intervenção bem diagramada e clara, utilizando a marquise como grid para simular um letreiro de cinema (letras brancas em caixa alta), me pareceu uma boa solução para comunicar e resignificar o problema. Fiz a poetixação (como Augusto de Campos me sugeriu chamar essas perquirições) para explodir o diálogo, trazendo a questão do cinema pro universo da pixação ao mesmo tempo q a questão do pixo pro universo do cinema. Afinal, já é tempo de abrir os códigos desta linguagem marginalizada para expandir seu alcance e atuação e como diria o próprio Augusto: “filmletras quem os tivera?”.
Como foi a “operação”? Você tomou algum tipo de cuidado para não ser surpreendido?
A operação foi precisa. Utilizei a técnica que a pixação me deu. Nenhuma outra modalidade de composição me daria essa habilidade, e eu não estava sozinho. Aspirei ao letreiro luminoso que é recorrente no filme O Bandido da Luz Vermelha, de Rogério Sganzerla, mas foi mesmo o letreiro furioso do pixador #DI#, pioneiro que dominava plenamente a arte de pixar de ponta cabeça, que me inspirou na hora.
Qual sua ligação com o Belas Artes?
Não tenho nenhuma ligação com as “belas artes”, esse termo está totalmente ultrapassado. Não compactuo com beleletristes. Mas, apesar do nome, é certo q era um bom cinema, caso em extinção de boa programação (que incluía filmes representativos da história cinematográfica) e ótima localização (contrário da cinemateca por exemplo). Hoje, ficamos reféns dos filmes em cartaz da programação meramente comercial dos outros cinemas da região, da qual 1% dos filmes trazem alguma novidade, os outros 99% são carne de vaca.
Como você recebeu a notícia de que, definitivamente, o cinema não será tombado?
As coisas estão tão sem sentido que eu recebi mensagens comemorando o fato da pixação ter aparecido no jornal ao invés de lamentando a decisão da “justiça”. Cultivei, nestas ultimas semanas, a falsa expectativa de que o cinema pudesse voltar a funcionar. Mas não, o que se vê é uma política pública que privilegia os interesses do mercado imobiliário, e essa política repercuti em sérios equívocos sociais. Como abordar essa coisa delicada a qual chamamos vida? E se o cinema é, em certo grau, a extensão da nossa mente, de nossos sonhos, é justamente a nossa cabeça que está sendo atropelada. E se não tem cinema, e se o mercado rodoviarista também comete suas presepadas, e se aquela velha lei da física prova que os muros estão em movimento em relação ao corpo que está parado dentro do carro, os pixadores (melhor se forem poetixadores) vão se encarregando de distribuir palavras e imagens em movimento por aí. o cinema é o mundo?
2159
Era noite de festival de cinema, em 2159, numa cidade do interior de São Paulo.
Haviam alguns alienígenas na platéia da premiação. Eram de um planeta há pouco descoberto chamado "Capton". Eles, por sua vez, eram donos de metade do planeta terra, a outra metade era de empresários do Mac Donalds. O Mac Donalds havia instalado algumas franquias em Capton e levado alguns seres humanos para lá trabalharem, agora sob recente descoberta de cientistas do planeta "Mercaton", de que seres humanos conseguiriam trabalhar 22h por dia, com 30 minutos de descanso, 30 para comer uma cenoura por dia no almoço, e outros 60 para visitar amigos, família, se divertir, criar, trabalhar a subjetividade e dormir.
Naquela noite, um cineasta que parecia não dialogar com seu tempo, desde sua forma de vestir até como se sentava na cadeira ou respirava, ouvira seu nome pronunciado a um prêmio pela pesquisa histórica de um filme que falava sobre o século 21.
Subira até o palco sem olhar para os lados, como se se despedisse de todos, sem querer encará-los um pouco por asco e um tanto por medo. Recebeu o prêmio com um sorriso e retirou da cintura um revólver calibre 38 e o direcionou ao céu de sua boca.
Ninguém entendera nada, já que o obsoleto objeto já não existia - a repressão agora era feita através de um pequeno aparelho do tamanho de um polegar que, simplesmente, contorcia o cérebro dos revoltosos, transformando seu descontentamento em dor, e o que era vontade de mudança, o que era desejo se torna um incômodo tão grande que logo todos se acostumaram a viver sem aquilo, que até um certo momento também chamavam de sonhos.
O cineasta então atirou contra o céu de sua boca. O sangue que corria parecia morto, mas de alguma maneira, seu corpo ainda pulsava. A platéia ainda demorava para entender o que houvera acontecido. Há muito não se via aquele liquido e nem aquela cor. E ao mesmo tempo, um sentimento de vida se confundia com a morte, já que aquele corpo pulsava motivando os outros corpos humanos a também pulsar, os únicos se mantinham ocos, parados eram os dos donos do mundo.
Alguns fotógrafos, repórteres armaram câmeras e espécies de micro computadores, mas não conseguiram clicar ou escrever qualquer coisa, já que um deles houvera se cortado na alça metálica de uma das câmeras, e viram que aquele sangue que jorrava se assemelhava com o homem no chão.
Todos olharam o corpo e, por algum motivo, deixaram seus equipamentos caírem sobre o chão. Apenas compadeceram com aquele corpo morto, e andavam, vagarosamente para fora do espaço de premiação.
Alguns deixavam cartões de crédito e dinheiro - estes ainda sobreviveram através dos tempos - caírem sobre o chão, que consequentemente eram pisados por outros.
O alienígenas de Capton se juntaram aos outros do donos do mundo e cabisbaixos entravam na última nave para Capton, de onde desciam os trabalhadores que lá estavam.
Foi então que, pela primeira vez, entendemos o que era humanidade.
domingo, 4 de dezembro de 2011
Olhai por nós, doutor!
Freud morreu, Marx morreu, e eu também não me sinto bem.
Algo me atinge semelhante às outras lembranças de grandes seres humanos que se vão:
Quando se foi, Boal parece ter levado contigo uma matéria humana digna, sincera, necessária. Dele fica um teatro que celebra a vida, engajado, combativo. E ao mesmo tempo se esvai assim como um pouco de nós. Morremos um pouco a cada lembrança.
Assim foi com tantos outros: Florestan, Rosa, Ana, Che, Milton, ....
Com todos, todos eles, um pouco de nós.
E, hoje, Sócrates, o doutor, aquele que de fato avistávamos e dizíamos: "Este existe e é filósofo, dos bons"; rompeu com o tecido que nos segura em vida, e quanto mais vive, mais fino fica. Com ele se √ão os desejos de uma democracia onde nada mais vivia. Vão também as promessas, ainda que cumpridas. Fica seu convite para uma dança. Que só aceitam aqueles capazes de se embriagar com a bola nos pés, uma cerveja gelada num buteco mais ou menos, se possível numa segunda pela tarde.
Fica um desejo de novos atrasos nas concentrações antes do jogo, não por causa de melancias e morangos, mas porque se embriagava - de novo - com a mulher que ama(va)(ou) - ainda que por uma única noite, mas amou.
Fica o desejo, de que surjam mais ociosos, mas que no fundo "só-negam"a realidade e clamam por vida.
Doutores,
Uma coisa é certa: de vocês, mas que qualquer fetiche, fica a vontade de vida, e aquilo, que (nos)nós, extensão de vós, (nos)cabe fazer: mudar o mundo!
Seremos competentes o bastante para continuarmos nossa(vossa) jornada?
Veremos camaradas, veremos!
ps: se por caso, estivermos errados, e de fato existir um deus e um céu, diz a ele que a brincadeira já deu o que tinha que dar.
sábado, 3 de dezembro de 2011
sexta-feira, 2 de dezembro de 2011
quinta-feira, 1 de dezembro de 2011
O Fim e o Princípio
Se Marx foi a tentativa de humanizar a ciência, Coutinho é, talvez, a tentativa mais sincera de humanizar o cinema.
Segue o link para download do filme "O Fim e Princípio" de Eduardo Coutinho via torrent:
http://thepiratebay.org/torrent/5094744
http://thepiratebay.org/torrent/5094744
quarta-feira, 30 de novembro de 2011
"A crise do documentário" por Ian F. Svenonius
Relia uma antiga edição da revista √ice "edição de filme" e encontrei este ótimo texto de Ian F. Svenonius, e ilustrações* de Jim Krewson.
Matéria original: http://www.viceland.com/br/v1n4/htdocs/documentary-crisis-125.php?page=2
Enquanto esse impulso em apresentar a própria época aos herdeiros da terra ecoa uma necessidade humana antiga, vista desde as pinturas rupestres, a falta de qualidade artística do vídeo precisa ser enfrentada. Esses filmes são, em geral, relatos propagandísticos de eventos, feios, sem nuances. O trabalho de câmera é quase sempre execrável, a estrutura é simplística, o método narrativo é normalmente uma paródia de programas de televisão; parecem trabalhos de escola. Enquanto a utilização desse meio poderoso e a tentativa de expressar um argumento ideológico são admiráveis, as decisões estéticas dos videomakers muitas vezes revelam uma visão de mundo infantilizada, uma concepção artística atrofiada e uma mentalidade linear e empobrecida.
Isso tudo levanta a questão: quem é a audiência de tais produções? São os seus contemporâneos? Isso parece ser pouco provável, uma vez que as repetidas histórias da guerra no Iraque e os mitos do rock que aparecem em tais filmes são velhos conhecidos de seus espectadores. Se a intenção é a mera repetição de um folclore, é até uma boa razão, apesar de as armadilhas do cinema não parecerem necessárias para tal tarefa quando um panfleto ou um artigo de revista poderia fazer o mesmo serviço pelo menos tão bem quanto um vídeo, dispensando toda aquela autopromoção. Ganhar dinheiro não pode ser o objetivo, já que esses projetos representam em geral um risco financeiro.
A resposta óbvia parece ser que os vídeos são produzidos para oferecer uma explicação sobre nós e nossa época a alguma raça alienígena futura. Os esclarecimentos cuidadosos e infantis oferecidos são pensados para serem compreendidos por alguma sensibilidade exótica, e a idiotice em exibição parece falar a uma consciência interestelar à qual não se pode atribuir nenhuma sofisticação, sob perigo de gerar mal-entendidos, e à qual tampouco podemos atribuir o compartilhamento, conosco, de pressupostos culturais. Por que outro motivo um filme como Procedimento Operacional Padrão seria tão burro e simplório? Todos os seres humanos que viram esse filme devem ter ficado chocados com sua postura apologética em relação ao que todos sabem ser uma máquina de matar desprovida de ética, o Exército dos Estado Unidos.
Não faltam documentários sem sentido. No End in Sight, por exemplo, é uma peça de propaganda que sugere que a guerra contra o Iraque foi “mal conduzida”, e então invoca o espectro do Irã no papel de bicho-papão nos comentários finais, deixando as portas abertas para uma sequência espetacular. Uma vez que essas ideias estão por todos os lados, na televisão e nos jornais, quem seria o público alvo para tamanha estupidez? Talvez uma raça futura que vasculhará os detritos de nossa civilização e em relação aos quais os realizadores sentem a responsabilidade de explicar sua ideologia capitalista maldita, o sistema que desencadeou o fim de um planeta tão lascivo. Talvez achem que enquanto os programas de TV se perderão e os jornais serão queimados no holocausto nuclear, os videodocumentários sobreviverão, protegidos por sua capa de plástico resistente. Talvez sua propaganda tenha como intenção diminuir o nojo que os alienígenas sentirão quando testemunharem a insensatez humana, o mesmo sentimento que seria despertado, em uma loja de coisas usadas, por uma grande coleção de discos que foi pisoteada, arranhada e abandonada à própria sorte.
Parece claro que os documentários, e o vídeo em geral, são feitos para alienígenas. Por que, afinal, os DVD têm a forma de OVNIs? Para atrair a atenção de alienígenas. Por que os atores pornôs depi- lam sua genitália? Porque os diretores imaginam que isso agradará os alienígenas para os quais o vídeo pornô é feito—os mesmos alienígenas que são normalmente retratados sem pelos. Quem decidiu que o vídeo seria utilizado dessa maneira? Ninguém em particular. Foi inconsciente. Alguma coisa a respeito do vídeo grita “O Futuro” para as pessoas. Fontes e telas de vídeo sempre aparecem em programas de televisão, discos e filmes futurísticos. Talvez tenhamos feito alguma viagem astral na qual vislumbramos esse ambiente pós-histórico.
Esse impulso de criar explicações sobre nossa época para uma raça ou forma de vida superior é compreensível, claro. Tem sido o ímpeto de muitos escritos esotéricos e religiosos ao longo da História. Mas é um equívoco pressupor que os alienígenas sejam tão esteticamente esnobes que não possam apreciar um pouquinho de arte em sua propaganda. O que esses vídeos estão de fato insinuando para essa raça futura é o quão esteticamente pobre é nossa época. Dos novos edifícios concebidos por uma geração diabólica de arquitetos às calças de sarja dos empregados de escritório, às placas do comércio sem ne-nhum senso artístico feitas com as mesmas fontes de computador, aos carros projetados com o mesmo computador horroroso. A população tem sido alvo de uma imensa defecada estética, e não sabe. Anos e anos de retardamento artístico e de admoestações filistinas contra a arte vindas de todos os lados resultaram em um país kitsch de merda (EUA) e, por meio da influência desmesurada desse país sobre o resto do mundo, em um mundo kitsch também de merda.
Claro, é importante que não sejamos tão duros em nosso julgamento dos autores desses vídeos medíocres. Afinal de contas, eles trabalham sob uma ditadura fascista, com todas suas atribulações psíquicas, uma população idiotizada e conexões asquerosas, fruto da necessidade de financiamento. É bastante difícil produzir qualquer coisa que seja no mundo inteiro quando não há audiência para a obra. A mídia de massa teve sucesso em nos fazer sentir distantes, azarados, loucos, solitários. Com certeza, relativamente pouca arte interessante foi produzida no Chile de Pinochet.
Na famosa entrevista de Bob Dylan no documentário Don’t Look Back, de D. A. Pennebaker, na qual ele fustiga um repórter da Time ao dizer “Não há ideias na revista Time... apenas certos fatos... o artigo que você está escrevendo, pode vir a ser um bom artigo; mas não significa nada”, ele poderia estar falando dessa nova mania de documentários. Quando, ao ser pressionado a dar uma alternativa, ele sugere, “Uma simples foto... uma simples foto de uma, digamos, prostituta vomitando na sarjeta e ao lado uma foto do Sr. Rockefeller”, ele poderia estar falando das colagens de cinejornal de Santiago Alvaréz.
O trabalho de Alvaréz aponta o caminho para uma solução do impasse no qual o mundo do documentário se encontra. Um diretor cubano, a quem Fidel Castro encarregou de produzir cinejornais sobre a bem-sucedida batalha da revolução por poder, criou uma média de um filme a cada duas semanas ao longo de 30 anos. Fez isso com praticamente nenhum material à sua disposição e, mesmo assim, seus trabalhos são evocações fantásticas das circunstâncias nas quais foram feitos. Um alienígena que visse seu trabalho certamente se encantaria com a humanidade que o criou, compreenderia a complexidade de suas criações e as circunstâncias e as contradições em seu caráter que conduziram por fim à destruição do planeta. Seria como se a tal coleção de discos arruinada encontrada na loja de coisas usadas contivesse uma explicação excitante da luta de seu antigo proprietário contra as forças terríveis que criaram a calamidade que resultou em sua destruição.
Um dos filmes de Alvaréz que merece ser visto é LBJ, de 1969. Ali se insinua que LBJ (Lyndon B. Johnson) assassinou MLK, RFK e JFK (L de “Luther”, B de “Bobby” e J de “Jack”), e o faz quase sem palavras ou narrativa. As ferramentas são simples: algumas são recortes das revistas Life e Playboy lentamente filmados. Edição engenhosa. Música enfeitiçante. Esse é um documentário que poderia ser mostrado a falantes de qualquer língua com o mesmo resultado, e que também funciona, mesmo que desligado de seu programa político, como uma bela colagem de nossa época. Música de Carl Orff, Miriam Makeba, Nina Simone, Trashmen, Pablo Milanés, Leo Brouwer e outros seguidos pelo casamento da filha de LBJ até seus atos traiçoeiros. O filme termina com a montagem de imagens do nascimento de seu neto intercaladas com um clipe de uma camponesa vietnamita queimada por napalm. Quase todo o filme é composto de fotos de jornal ou de colunas sociais de revistas. Alvarez é livre para utilizar quaisquer imagens de cinejornais, fotos de revista, imagens encontradas e a música pop, o jazz ou composições clássicas que desejar, das fontes que quiser, uma vez que trabalha para o Instituto Cubano de Arte e Indústria Cinematográficos da República de Cuba, que estava e ainda está em guerra com o mundo capitalista e, por isso, desdenha as leis do copyright.
Diretores invejosos assistem aos filmes de Alvaréz e gritam “Não é justo!” quando vêem o que isso lhe permite—mas eles deveriam largar mão de seus choramingos e levar o programa adiante. As regras de licenciamento e as leis de propriedade intelectual destruíram a arte e a expressão dos paísescapitalistas. Está na hora de uma rebelião contra as convenções cinematográficas e, sim, contra as leis que resultam na produção cinematográfica medíocre. Santiago Alvaréz, que fez mais de 700 filmes em sua carreira, de 1959 até sua morte em 1998, seria muito mais admirado por quaisquer alienígenas que porventura desembarcassem no nosso planeta do que o lixo cafona e simplório que os diretores de documentários têm despejado ultimamente.
Matéria original: http://www.viceland.com/br/v1n4/htdocs/documentary-crisis-125.php?page=2
A pintura a óleo é praticada há cerca de 600 anos. A serigrafia foi
desenvolvida na China, durante a dinastia Song no século X, ou melhor,
há uns 1.000 anos. Talvez o poema mais antigo de que se tenha notícia
seja A Epopeia de Gilgamesh, redigido em escrita cuneiforme no
século III a.C., o que faz a poesia escrita ter uns 5.000 anos de idade.
A música provavelmente surgiu junto com o homo sapiens na África
como um elemento intrínseco à cultura humana, há 160 mil anos. Em
comparação, o cinema tem o equivalente ao tempo de vida de uma
tartaruga: aproximadamente 124 anos. Mas, apesar de ainda ser um bebê na
escala de tempo das artes, enfrenta hoje uma crise existencial.
Saudado por Lênin como “a forma de arte mais importante”, o cinema que, mesmo em plena infância, fascinou o mundo até uma geração atrás, hoje luta pela sobrevivência, relevância, público e até mesmo para voltar a ser objeto de análise e debate. Considerando que o cinema nasceu do capitalismo industrial desordenado, essa condição de crise não é tão estranha. Na verdade, já que a característica principal do capitalismo é a crise perpétua, faz sentido que o cinema—uma lasca do grande bloco—seja marcado pela mesma histeria fabricada típica do sistema que o gerou.
Quando passou a ser mais do que uma simples novidade, o cinema era uma extensão do teatro, uma forma de contar histórias sobre o mundo. Mas, ao contrário do teatro, o cinema foi a contribuição da era industrial para o mundo das artes e assim—diferente de outros meios mais antigos—inevitavelmente lembrava as novas indústrias, como a siderúrgica e petrolífera, com as mesmas divisões de trabalho estratificadas, sindicatos, greves, contratos traiçoeiros, exploração impiedosa e uma elite proprietária de mentalidade monopolista.
Como a propriedade dos meios de produção é a questão central em tais indústrias, as grandes empresas do ramo cinematográfico—Warner Bros. e MGM—garantiram controle total sobre filmes, processos, suprimentos, trabalhadores (atores e diretores eram comprados e presos a contratos) e distribuição a fim de sufocar, destruir ou desencorajar a concorrência.
Assim como o rock em sua fase “clássica”, o cinema nos Estados Unidos era, quase desde o início, uma empreitada cujos custos apenas os estúdios de Hollywood conseguiam bancar, com um punhado de “autores” ilustres responsáveis por oferecer suas novas dádivas a cada temporada. A humanidade foi hipnotizada pelas fábulas que lhes contavam nos cinemas hermeticamente fechados que se encontravam a cada esquina. Tornar-se um participante do “cinema” era um sonho glorioso. Aspirantes a atrizes se jogavam contra o megalito de Hollywood como alimentos sacrificiais, e tornar-se diretor era uma ambição fantasiosa, ridícula, comparável a querer ser presidente ou rei do Universo.
Quando a tecnologia de vídeo proliferou, no início dos anos 80, ela foi, como todas as novas parafernálias da cultura de consumo, saudada como uma revolução para o homem comum. O vídeo era barato e portátil, e não estava sob o monopólio que a indústria cinematográfica mantinha sobre os meios de produção. Agora, qualquer pessoa que tivesse cabeça e ambição podia fazer um filme, e não mais apenas aqueles com conexão no showbiz, vínculos familiares ou disposição para um teste do sofá. Como a maioria dos supostos triunfos do “povo”, era na verdade o resultado do processo de imposição de uma indústria (a indústria eletrônica japonesa) sobre outra (a indústria cinematográfica de Hollywood).
O único problema com o vídeo era sua crueza e feiura. A imagem era tosca, e não tinha a mesma sensibilidade mágica que os espectadores viam na película. Assim, apesar da proliferação em massa quase imediata de câmeras de vídeo, poucos filmes dignos de nota foram produzidos com o novo equipamento. Em vez disso, as hoje onipresentes filmadoras foram relegadas a shows de rock underground até que outro uso—o registro de atos sexuais—fosse descoberto.
Ainda assim, Hollywood respondeu à ameaça da democracia do vídeo, tornando seus meios de produção ainda mais inacessíveis. Os filmes passaram a ser dirigidos por supercelebridades e os efeitos especiais se tornaram cada vez mais sofisticados. A narrativa deixou de ser prioridade em favor das maquiagens dos monstros, das explosões interestelares e das mega-estrelas. Uma vez que a TV a cabo e a locação de vídeos continuava a estraçalhar os lucros das salas de cinema, o desejo de produzir espetáculos se tornou cada vez mais e mais a principal preocupação dos estúdios. Para que um filme fosse lançado no circuito, deveria parecer um passeio de montanha-russa com todos as suas excitações nauseabundas. Cortes de quebrar o pescoço, enquadramentos nervosos, volume de som insuportável e violência explícita e bizarra fizeram muitos filmes, ironicamente, serem inassistíveis. Uma vez ou outra, por descuido, nos vemos em uma sala de cinema, seduzidos por uma enxurrada de propaganda, convencidos de que assistir a um determinado filme é indispensável para a continuidade da nossa educação cultural. Então, humilhados, degradados, insultados e R$ 20 mais pobres, juramos nunca mais cair nessa. Essa lição de vida é aprendida, em média, uma vez por ano. Na verdade, assistir a filmes no cinema é geralmente uma forma de nostalgia.
Esse declínio já vem acontecendo há algum tempo. Jean-Luc Godard afirmou memoravelmente em uma entrevista que, quando descobriu o cinema nos anos 50, este “já estava acabado”. Realmente, nos Estados Unidos de 1946, com uma população de 141 milhões de habitantes, vendia-se 100 milhões de ingressos de cinema por semana—um total de 36,5 bilhões de ingressos no ano. Hoje, com o dobro de habitantes, vendeu-se apenas 1,4 bilhão de ingressos em 2007 em toda a América do Norte (incluindo o Canadá).
Claro, as pessoas ainda assistem passivamente às peças moralistas dos seus mestres, mas agora em casa, na televisão, e a qualidade da imagem já não é mais tão importante. Pressentindo uma oportunidade, os videomakers—pessoas não necessariamente consagradas pelos estúdios—tentaram explorar o enorme potencial de desenvolvimento de uma indústria cinematográfica descentralizada formada por autores de verdade e entusiastas, similar à cena descentralizada dos músicos, artistas plásticos e poetas. Mas a vocação inicial da câmera de vídeo como uma ferramenta documental nunca foi abalada. Tampouco o desdém generalizado por algo que podia filmar qualquer um e que estava ao alcance financeiro de todos. Em uma sociedade cujo desprezo pelos pobres é institucionalizado, o próprio fato de o vídeo ser barato era considerado um defeito.
Por causa das suas raízes no registro de shows e pornografia, o vídeo era considerado uma “verdade”. Por isso, a nova geração de diretores, excluídos do uso de película pelos altos custos, se ocuparam em fazer “documentários” em vez de dramas com suas câmeras de vídeo. Hoje, produz-se documentários em uma escala inacreditável. São, em geral, perfis de alguma pessoa incomum, como um arqueiro sem braços ou um vegetariano que pratica a caça ou uma crítica política sobre alguma guerra ou uma pesquisa histórica em homenagem a uma banda de rock qualquer com direito a testemu-nhos de pessoas que estavam “lá” ou que foram profundamente influenciadas por ela. É relativamente fácil conseguir fundos para a produção de documentários, e não faltam festivais para exibi-los.
Apesar de parte desses documentários feitos em vídeo ser interessante, o que é realmente fascinante é o volume em que são produzidos, se comparado com as narrativas ficcionais tradicionais. O que isso revela a respeito de uma geração que não parece capaz de escrever uma história com personagens ou com uma trama bem estruturada? Enquanto a música se tornou completamente fantasiosa (repleta de compositores e cantores de folk psicodélico cantarolando canções sobre magia e duendes, compositores de música eletrônica propondo sexo com robôs e cantores românticos alternativos lamentando o fim de algum mundo imaginário), os novos diretores estão obcecados em apresentar um retrato da “realidade”. Eles têm uma preocupação apocalíptica de mostrar sua época como a vêm, já que não participam do diálogo oficial surreal que está sendo registrado pela mídia imperialista corrupta.
Saudado por Lênin como “a forma de arte mais importante”, o cinema que, mesmo em plena infância, fascinou o mundo até uma geração atrás, hoje luta pela sobrevivência, relevância, público e até mesmo para voltar a ser objeto de análise e debate. Considerando que o cinema nasceu do capitalismo industrial desordenado, essa condição de crise não é tão estranha. Na verdade, já que a característica principal do capitalismo é a crise perpétua, faz sentido que o cinema—uma lasca do grande bloco—seja marcado pela mesma histeria fabricada típica do sistema que o gerou.
Quando passou a ser mais do que uma simples novidade, o cinema era uma extensão do teatro, uma forma de contar histórias sobre o mundo. Mas, ao contrário do teatro, o cinema foi a contribuição da era industrial para o mundo das artes e assim—diferente de outros meios mais antigos—inevitavelmente lembrava as novas indústrias, como a siderúrgica e petrolífera, com as mesmas divisões de trabalho estratificadas, sindicatos, greves, contratos traiçoeiros, exploração impiedosa e uma elite proprietária de mentalidade monopolista.
Como a propriedade dos meios de produção é a questão central em tais indústrias, as grandes empresas do ramo cinematográfico—Warner Bros. e MGM—garantiram controle total sobre filmes, processos, suprimentos, trabalhadores (atores e diretores eram comprados e presos a contratos) e distribuição a fim de sufocar, destruir ou desencorajar a concorrência.
Assim como o rock em sua fase “clássica”, o cinema nos Estados Unidos era, quase desde o início, uma empreitada cujos custos apenas os estúdios de Hollywood conseguiam bancar, com um punhado de “autores” ilustres responsáveis por oferecer suas novas dádivas a cada temporada. A humanidade foi hipnotizada pelas fábulas que lhes contavam nos cinemas hermeticamente fechados que se encontravam a cada esquina. Tornar-se um participante do “cinema” era um sonho glorioso. Aspirantes a atrizes se jogavam contra o megalito de Hollywood como alimentos sacrificiais, e tornar-se diretor era uma ambição fantasiosa, ridícula, comparável a querer ser presidente ou rei do Universo.
Quando a tecnologia de vídeo proliferou, no início dos anos 80, ela foi, como todas as novas parafernálias da cultura de consumo, saudada como uma revolução para o homem comum. O vídeo era barato e portátil, e não estava sob o monopólio que a indústria cinematográfica mantinha sobre os meios de produção. Agora, qualquer pessoa que tivesse cabeça e ambição podia fazer um filme, e não mais apenas aqueles com conexão no showbiz, vínculos familiares ou disposição para um teste do sofá. Como a maioria dos supostos triunfos do “povo”, era na verdade o resultado do processo de imposição de uma indústria (a indústria eletrônica japonesa) sobre outra (a indústria cinematográfica de Hollywood).
O único problema com o vídeo era sua crueza e feiura. A imagem era tosca, e não tinha a mesma sensibilidade mágica que os espectadores viam na película. Assim, apesar da proliferação em massa quase imediata de câmeras de vídeo, poucos filmes dignos de nota foram produzidos com o novo equipamento. Em vez disso, as hoje onipresentes filmadoras foram relegadas a shows de rock underground até que outro uso—o registro de atos sexuais—fosse descoberto.
Ainda assim, Hollywood respondeu à ameaça da democracia do vídeo, tornando seus meios de produção ainda mais inacessíveis. Os filmes passaram a ser dirigidos por supercelebridades e os efeitos especiais se tornaram cada vez mais sofisticados. A narrativa deixou de ser prioridade em favor das maquiagens dos monstros, das explosões interestelares e das mega-estrelas. Uma vez que a TV a cabo e a locação de vídeos continuava a estraçalhar os lucros das salas de cinema, o desejo de produzir espetáculos se tornou cada vez mais e mais a principal preocupação dos estúdios. Para que um filme fosse lançado no circuito, deveria parecer um passeio de montanha-russa com todos as suas excitações nauseabundas. Cortes de quebrar o pescoço, enquadramentos nervosos, volume de som insuportável e violência explícita e bizarra fizeram muitos filmes, ironicamente, serem inassistíveis. Uma vez ou outra, por descuido, nos vemos em uma sala de cinema, seduzidos por uma enxurrada de propaganda, convencidos de que assistir a um determinado filme é indispensável para a continuidade da nossa educação cultural. Então, humilhados, degradados, insultados e R$ 20 mais pobres, juramos nunca mais cair nessa. Essa lição de vida é aprendida, em média, uma vez por ano. Na verdade, assistir a filmes no cinema é geralmente uma forma de nostalgia.
Esse declínio já vem acontecendo há algum tempo. Jean-Luc Godard afirmou memoravelmente em uma entrevista que, quando descobriu o cinema nos anos 50, este “já estava acabado”. Realmente, nos Estados Unidos de 1946, com uma população de 141 milhões de habitantes, vendia-se 100 milhões de ingressos de cinema por semana—um total de 36,5 bilhões de ingressos no ano. Hoje, com o dobro de habitantes, vendeu-se apenas 1,4 bilhão de ingressos em 2007 em toda a América do Norte (incluindo o Canadá).
Claro, as pessoas ainda assistem passivamente às peças moralistas dos seus mestres, mas agora em casa, na televisão, e a qualidade da imagem já não é mais tão importante. Pressentindo uma oportunidade, os videomakers—pessoas não necessariamente consagradas pelos estúdios—tentaram explorar o enorme potencial de desenvolvimento de uma indústria cinematográfica descentralizada formada por autores de verdade e entusiastas, similar à cena descentralizada dos músicos, artistas plásticos e poetas. Mas a vocação inicial da câmera de vídeo como uma ferramenta documental nunca foi abalada. Tampouco o desdém generalizado por algo que podia filmar qualquer um e que estava ao alcance financeiro de todos. Em uma sociedade cujo desprezo pelos pobres é institucionalizado, o próprio fato de o vídeo ser barato era considerado um defeito.
Por causa das suas raízes no registro de shows e pornografia, o vídeo era considerado uma “verdade”. Por isso, a nova geração de diretores, excluídos do uso de película pelos altos custos, se ocuparam em fazer “documentários” em vez de dramas com suas câmeras de vídeo. Hoje, produz-se documentários em uma escala inacreditável. São, em geral, perfis de alguma pessoa incomum, como um arqueiro sem braços ou um vegetariano que pratica a caça ou uma crítica política sobre alguma guerra ou uma pesquisa histórica em homenagem a uma banda de rock qualquer com direito a testemu-nhos de pessoas que estavam “lá” ou que foram profundamente influenciadas por ela. É relativamente fácil conseguir fundos para a produção de documentários, e não faltam festivais para exibi-los.
Apesar de parte desses documentários feitos em vídeo ser interessante, o que é realmente fascinante é o volume em que são produzidos, se comparado com as narrativas ficcionais tradicionais. O que isso revela a respeito de uma geração que não parece capaz de escrever uma história com personagens ou com uma trama bem estruturada? Enquanto a música se tornou completamente fantasiosa (repleta de compositores e cantores de folk psicodélico cantarolando canções sobre magia e duendes, compositores de música eletrônica propondo sexo com robôs e cantores românticos alternativos lamentando o fim de algum mundo imaginário), os novos diretores estão obcecados em apresentar um retrato da “realidade”. Eles têm uma preocupação apocalíptica de mostrar sua época como a vêm, já que não participam do diálogo oficial surreal que está sendo registrado pela mídia imperialista corrupta.
Enquanto esse impulso em apresentar a própria época aos herdeiros da terra ecoa uma necessidade humana antiga, vista desde as pinturas rupestres, a falta de qualidade artística do vídeo precisa ser enfrentada. Esses filmes são, em geral, relatos propagandísticos de eventos, feios, sem nuances. O trabalho de câmera é quase sempre execrável, a estrutura é simplística, o método narrativo é normalmente uma paródia de programas de televisão; parecem trabalhos de escola. Enquanto a utilização desse meio poderoso e a tentativa de expressar um argumento ideológico são admiráveis, as decisões estéticas dos videomakers muitas vezes revelam uma visão de mundo infantilizada, uma concepção artística atrofiada e uma mentalidade linear e empobrecida.
Isso tudo levanta a questão: quem é a audiência de tais produções? São os seus contemporâneos? Isso parece ser pouco provável, uma vez que as repetidas histórias da guerra no Iraque e os mitos do rock que aparecem em tais filmes são velhos conhecidos de seus espectadores. Se a intenção é a mera repetição de um folclore, é até uma boa razão, apesar de as armadilhas do cinema não parecerem necessárias para tal tarefa quando um panfleto ou um artigo de revista poderia fazer o mesmo serviço pelo menos tão bem quanto um vídeo, dispensando toda aquela autopromoção. Ganhar dinheiro não pode ser o objetivo, já que esses projetos representam em geral um risco financeiro.
A resposta óbvia parece ser que os vídeos são produzidos para oferecer uma explicação sobre nós e nossa época a alguma raça alienígena futura. Os esclarecimentos cuidadosos e infantis oferecidos são pensados para serem compreendidos por alguma sensibilidade exótica, e a idiotice em exibição parece falar a uma consciência interestelar à qual não se pode atribuir nenhuma sofisticação, sob perigo de gerar mal-entendidos, e à qual tampouco podemos atribuir o compartilhamento, conosco, de pressupostos culturais. Por que outro motivo um filme como Procedimento Operacional Padrão seria tão burro e simplório? Todos os seres humanos que viram esse filme devem ter ficado chocados com sua postura apologética em relação ao que todos sabem ser uma máquina de matar desprovida de ética, o Exército dos Estado Unidos.
Não faltam documentários sem sentido. No End in Sight, por exemplo, é uma peça de propaganda que sugere que a guerra contra o Iraque foi “mal conduzida”, e então invoca o espectro do Irã no papel de bicho-papão nos comentários finais, deixando as portas abertas para uma sequência espetacular. Uma vez que essas ideias estão por todos os lados, na televisão e nos jornais, quem seria o público alvo para tamanha estupidez? Talvez uma raça futura que vasculhará os detritos de nossa civilização e em relação aos quais os realizadores sentem a responsabilidade de explicar sua ideologia capitalista maldita, o sistema que desencadeou o fim de um planeta tão lascivo. Talvez achem que enquanto os programas de TV se perderão e os jornais serão queimados no holocausto nuclear, os videodocumentários sobreviverão, protegidos por sua capa de plástico resistente. Talvez sua propaganda tenha como intenção diminuir o nojo que os alienígenas sentirão quando testemunharem a insensatez humana, o mesmo sentimento que seria despertado, em uma loja de coisas usadas, por uma grande coleção de discos que foi pisoteada, arranhada e abandonada à própria sorte.
Parece claro que os documentários, e o vídeo em geral, são feitos para alienígenas. Por que, afinal, os DVD têm a forma de OVNIs? Para atrair a atenção de alienígenas. Por que os atores pornôs depi- lam sua genitália? Porque os diretores imaginam que isso agradará os alienígenas para os quais o vídeo pornô é feito—os mesmos alienígenas que são normalmente retratados sem pelos. Quem decidiu que o vídeo seria utilizado dessa maneira? Ninguém em particular. Foi inconsciente. Alguma coisa a respeito do vídeo grita “O Futuro” para as pessoas. Fontes e telas de vídeo sempre aparecem em programas de televisão, discos e filmes futurísticos. Talvez tenhamos feito alguma viagem astral na qual vislumbramos esse ambiente pós-histórico.
Esse impulso de criar explicações sobre nossa época para uma raça ou forma de vida superior é compreensível, claro. Tem sido o ímpeto de muitos escritos esotéricos e religiosos ao longo da História. Mas é um equívoco pressupor que os alienígenas sejam tão esteticamente esnobes que não possam apreciar um pouquinho de arte em sua propaganda. O que esses vídeos estão de fato insinuando para essa raça futura é o quão esteticamente pobre é nossa época. Dos novos edifícios concebidos por uma geração diabólica de arquitetos às calças de sarja dos empregados de escritório, às placas do comércio sem ne-nhum senso artístico feitas com as mesmas fontes de computador, aos carros projetados com o mesmo computador horroroso. A população tem sido alvo de uma imensa defecada estética, e não sabe. Anos e anos de retardamento artístico e de admoestações filistinas contra a arte vindas de todos os lados resultaram em um país kitsch de merda (EUA) e, por meio da influência desmesurada desse país sobre o resto do mundo, em um mundo kitsch também de merda.
Claro, é importante que não sejamos tão duros em nosso julgamento dos autores desses vídeos medíocres. Afinal de contas, eles trabalham sob uma ditadura fascista, com todas suas atribulações psíquicas, uma população idiotizada e conexões asquerosas, fruto da necessidade de financiamento. É bastante difícil produzir qualquer coisa que seja no mundo inteiro quando não há audiência para a obra. A mídia de massa teve sucesso em nos fazer sentir distantes, azarados, loucos, solitários. Com certeza, relativamente pouca arte interessante foi produzida no Chile de Pinochet.
Na famosa entrevista de Bob Dylan no documentário Don’t Look Back, de D. A. Pennebaker, na qual ele fustiga um repórter da Time ao dizer “Não há ideias na revista Time... apenas certos fatos... o artigo que você está escrevendo, pode vir a ser um bom artigo; mas não significa nada”, ele poderia estar falando dessa nova mania de documentários. Quando, ao ser pressionado a dar uma alternativa, ele sugere, “Uma simples foto... uma simples foto de uma, digamos, prostituta vomitando na sarjeta e ao lado uma foto do Sr. Rockefeller”, ele poderia estar falando das colagens de cinejornal de Santiago Alvaréz.
O trabalho de Alvaréz aponta o caminho para uma solução do impasse no qual o mundo do documentário se encontra. Um diretor cubano, a quem Fidel Castro encarregou de produzir cinejornais sobre a bem-sucedida batalha da revolução por poder, criou uma média de um filme a cada duas semanas ao longo de 30 anos. Fez isso com praticamente nenhum material à sua disposição e, mesmo assim, seus trabalhos são evocações fantásticas das circunstâncias nas quais foram feitos. Um alienígena que visse seu trabalho certamente se encantaria com a humanidade que o criou, compreenderia a complexidade de suas criações e as circunstâncias e as contradições em seu caráter que conduziram por fim à destruição do planeta. Seria como se a tal coleção de discos arruinada encontrada na loja de coisas usadas contivesse uma explicação excitante da luta de seu antigo proprietário contra as forças terríveis que criaram a calamidade que resultou em sua destruição.
Um dos filmes de Alvaréz que merece ser visto é LBJ, de 1969. Ali se insinua que LBJ (Lyndon B. Johnson) assassinou MLK, RFK e JFK (L de “Luther”, B de “Bobby” e J de “Jack”), e o faz quase sem palavras ou narrativa. As ferramentas são simples: algumas são recortes das revistas Life e Playboy lentamente filmados. Edição engenhosa. Música enfeitiçante. Esse é um documentário que poderia ser mostrado a falantes de qualquer língua com o mesmo resultado, e que também funciona, mesmo que desligado de seu programa político, como uma bela colagem de nossa época. Música de Carl Orff, Miriam Makeba, Nina Simone, Trashmen, Pablo Milanés, Leo Brouwer e outros seguidos pelo casamento da filha de LBJ até seus atos traiçoeiros. O filme termina com a montagem de imagens do nascimento de seu neto intercaladas com um clipe de uma camponesa vietnamita queimada por napalm. Quase todo o filme é composto de fotos de jornal ou de colunas sociais de revistas. Alvarez é livre para utilizar quaisquer imagens de cinejornais, fotos de revista, imagens encontradas e a música pop, o jazz ou composições clássicas que desejar, das fontes que quiser, uma vez que trabalha para o Instituto Cubano de Arte e Indústria Cinematográficos da República de Cuba, que estava e ainda está em guerra com o mundo capitalista e, por isso, desdenha as leis do copyright.
Diretores invejosos assistem aos filmes de Alvaréz e gritam “Não é justo!” quando vêem o que isso lhe permite—mas eles deveriam largar mão de seus choramingos e levar o programa adiante. As regras de licenciamento e as leis de propriedade intelectual destruíram a arte e a expressão dos paísescapitalistas. Está na hora de uma rebelião contra as convenções cinematográficas e, sim, contra as leis que resultam na produção cinematográfica medíocre. Santiago Alvaréz, que fez mais de 700 filmes em sua carreira, de 1959 até sua morte em 1998, seria muito mais admirado por quaisquer alienígenas que porventura desembarcassem no nosso planeta do que o lixo cafona e simplório que os diretores de documentários têm despejado ultimamente.
terça-feira, 29 de novembro de 2011
segunda-feira, 28 de novembro de 2011
Moacir Santos "Coisa nº2"
Conheci a obra genial de Moacir Santos através do amigo e grande músico Bruno Mota(Buiu)...
domingo, 27 de novembro de 2011
sábado, 26 de novembro de 2011
Ideia para um filme...a propósito de uma estética-política... "Aqui o patrão é protagonista"
Rosana, uma mulher de cabelos longos, bem cuidados e corpo magro está sentada à mesa e enquanto morde uma cenoura crua observa a empregada que lava a louça.
(Trata-se de uma cozinha da alta classe paulista)
A pia é próxima ao fogão.
Rosana se levanta de repente, ainda mascando a cenoura - não tira os olhos da empregada. Se aproxima mais até colar seu quadril na pia e fita a diarista no fundo de seus olhos.
A diarista se assusta e encara - com olhar baixo e trêmulo - Rosana.
DIARISTA
Tudo bem dona Rosana?
ROSANA
(Não desprega os olhos dos da diarista)
Não sei, eu tive uma impressão estranha lá da mesa, sabe?
DIARISTA
É a comida?
DIARISTA
Porque se for, te garanto que dessa vez prestei muito atenção.
Não tem nem rastro de nada de carne aí.
ROSANA
(sorri abismada, ainda fitando os olhos da diarista)
Não, foi algo mais estranho, quase mágica.
ROSANA
(sorri abismada, ainda fitando os olhos da diarista)
Não, foi algo mais estranho, quase mágica.
Ela coloca a mão carinhosamente sobre o maxilar da diarista e sente a pele da moça.
ROSANA
Sei lá, de lá de onde eu tava, a gente parecia ter alguma coisa
semelhante, sabe? Quase igual mesmo? Como se fôssemos de um
mesmo lugar, de uma mesma origem, sabe?
ROSANA
Sei lá, de lá de onde eu tava, a gente parecia ter alguma coisa
semelhante, sabe? Quase igual mesmo? Como se fôssemos de um
mesmo lugar, de uma mesma origem, sabe?
ROSANA
Inclusive, sabe o que eu tô vendo em volta de ti?
ROSANA
(Coloca a outra mão com a cenoura no rosto da diarista)
Mas...enquanto penso, lava o banheiro?(sorri)
A diarista atônita, mas tentando conter o sinais, gesticula que não com a cabeça, sem emitir um único som.
ROSANA
(sorri simpaticamente)
Não?
ROSANA
(Passando a mão sobre o rosto da diarista)
Uma chama azul!
ROSANA
ROSANA
(Passando a mão sobre o rosto da diarista)
Uma chama azul!
ROSANA
Mas não sei ainda te dizer o que é. E nem como veio
essa ideia de semelhança.
essa ideia de semelhança.
ROSANA
(Coloca a outra mão com a cenoura no rosto da diarista)
Mas...enquanto penso, lava o banheiro?(sorri)
Rosana sai em direção ao quarto ainda com a cenoura em mãos e expressão de extrema tranquilidade junto a um encantamento que a faz olhar para o alto, para as paredes, (etc..).
A diarista volta a trabalhar e se assusta.
A diarista volta a trabalhar e se assusta.
Seu avental começa a pegar fogo pela chama azul que vinda do fogão.
DIARISTA
Burra. burra, burra!
Burra. burra, burra!
DIARISTA
Mais um desconto...
Mais um desconto...
continua...
sexta-feira, 25 de novembro de 2011
Cia Ocamorana se apresenta na USP
Excepcionalmente hoje, dia 25/11, a Cia Ocamorana apresenta o seu espetáculo "Ruptura: Um Processo Revolucionário", na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da USP. A apresentação é as 20h, com entrada gratuita, no vão do prédio da FAU (piso caramelo). A temporada segue normalmente até o dia 04/12, no Teatro Coletivo.
quinta-feira, 24 de novembro de 2011
Simbólico encontro entre Pato Donald e Zé Carioca
Eis a descoberta do Brasil do samba e de Carmem Miranda - Tio Sam cria o Zé Carioca e o coloca em uma gaiola de grossas grades.
segunda-feira, 21 de novembro de 2011
domingo, 20 de novembro de 2011
É esquerdismo burro, imediatismo daqueles que criticam a ação dos atores globais em relação a Belo Monte?
Para todos aqueles que compartilharam o vídeo de atores globais sobre a usina de Belo Monte - contra a construção da usina, o que, também, obviamente, compartilho da posição -, algumas críticas feitas ao vídeo causaram certo desconforto .
E como se fundamenta esta crítica? Puro imediatismo, esquerdismo burro de nossa parte? Digo "nossa", pois faço parte dos críticos.
No que me cabe, posso dizer que, para mim - bem redundante mesmo -, o mundo funciona semelhante a uma boa obra de arte, seja em qual âmbito for, forma e conteúdo dialogam intrinsecamente, dialeticamente, quando não, muito provavelmente, a obra é no minimo confusa - no sentido ruim da palavra.
Digo isso, pelo seguinte: a "consciência social", para muitos, vai até onde começa suas cercas elétricas. A usina, por exemplo, não é patrocinadora direta da novela, ou nenhum dos atores é garoto propaganda dela; sem contar o fato primordial na discussão que é o sistema que continua operando que garante que senão este, milhões de micro e macro -absurdos aconteçam a cada segundo; mas o que mais me intriga nisto tudo é que - e grande parte da esquerda compartilhou tal vídeo - por que aqueles mesmos atores, sempre criticados, não necessariamente enquanto indivíduos, mas sujeitos que são operados por este sistema que possibilita essas atrocidades, e que ao mesmo tempo são coniventes a ele, e se mostram não tão desconfortáveis assim em manter suas posições, são agora tidos como grandes revolucionários? Os mesmos que criticávamos por serem também "responsáveis" (operados e coniventes ao sistema) pela imbecilização do ser humano pelas obras "de arte" mas toscas possíveis (de wolf maya e cia), agora são vangloriados porque a mesma popularidade, o mesmo mainstream que emburrece, vai atingir um grande público e conscientizá-los?
Isso vai de encontro a um sério problema, e que a esquerda não pode se esquivar, sem acabar de vez com ele - e ainda vai levar tempo para resolver o caso e darmos um salto qualitativo - que é o tão criticado fetiche criado pelo mercado, mas que por muitas vezes reproduzimos, mesmo nos opondo a ele. Se uma grande celebridade, criada pelo e para o mercado, que talvez de humano não lhe tenha restado nada, diz que apoia uma movimento social de esquerda, a esquerda faz questão de compartilhar a notícia tão vigorosamente quanto é feito num propaganda no mac donalds. O que há? Estamos reproduzindo a mesma imbecilização, mesma forma, mesmo humano, que dizemos tanto que perde seu status de ser humano, que se torna mercadoria? Basta então mudarmos o conteúdo, sem que haja mudança significativa na forma?
Ser crítico aquilo que não fazemos é um pouco menos complicado que aquilo que fazemos e mais, ao que nos garante o pão, o brioche, o shopping, Paris.
Talvez isso funcione, quando os mesmos atores - nós todos - criticarem e se mostrarem dispostos o bastante para romper definitivamente, inclusive, com aquilo que, infelizmente, se tornou condição de nossa sensação de existência -: o mercado.
sábado, 19 de novembro de 2011
sexta-feira, 18 de novembro de 2011
quinta-feira, 17 de novembro de 2011
Sobre gadús, diogos, morenos, moleques, travessos...
Quanto mais escuto, ou simplesmente vejo os novos artistas lançados ao mainstream, mais volto aos antigos.
Num mundo onde tudo se vende, o que vale é ter atitude. E dessa mesma tal atitude nasce o álibi para toda e qualquer cagada. Que leva, inclusive, pseudo-subversivos a serem aceitos de forma tão acolhedora e semelhante a um bom moço.
O que aconteceu com os rebeldes ?
Ora orgulhosos de exporem seus preconceitos, e ideologias mais reacionárias sob o manto do humor, ora tocando suas músicas que exaltam culturas orpimidas, antigos miltantes, lutadores, guerreiros , guerrilheiros, em reality shows; comportados, assimilados por tudo aquilo que em certo momento haviam, ainda que por bem pouco, parecido ser diferentes...
quarta-feira, 16 de novembro de 2011
terça-feira, 15 de novembro de 2011
quarta-feira, 9 de novembro de 2011
Uma galinha (Clarice Lispector - 1961)
Era uma galinha de domingo. Ainda
viva porque não passava de nove horas da manhã.
Parecia calma. desde sábado
encolhera-se num canto da cozinha. Não olhava para ninguém, ninguém olhava para ela.
Mesmo quando a escolheram, apalpando sua intimidade com indiferença, não souberam dizer
se era gorda ou magra. Nunca se adivinharia nela um anseio.
Foi pois uma surpresa quando a viram
abrir as asas de curto vôo, inchar o peito e, em dois ou três lances, alcançar a murada
do terraço. Um instante ainda vacilou – o tempo da cozinheira dar um grito – e
em breve estava no terraço do vizinho, de onde, em outro vôo desajeitado, alcançou o
telhado. Lá ficou em adorno deslocado, hesitando ora num, ora noutro pé. A família foi
chamada com urgência e consternada viu o almoço junto de uma chaminé. O dono da casa,
lembrando-se da dupla necessidade de fazer esporadicamente algum esporte e de almoçar,
vestiu radiante um calção de banho e resolveu seguir o itinerário da galinha: em pulos
cautelosos alcançou o telhado onde esta, hesitante e trêmula, escolhia com urgência
outro rumo. A perseguição tornou-se mais intensa. De telhado a telhado foi percorrido
mais de um quarteirão de rua. Pouco afeita a uma luta mais selvagem pela vida, a galinha
tinha que decidir por si mesma os caminhos a tomar, sem nenhum auxílio de sua raça. O
rapaz, porém, era um caçador adormecido. E por mais intima que fosse a presa o grito de
conquista havia soado.
Sozinha no mundo, sem pai nem mãe,
ela corria, arfava, muda, concentrada. Às vezes, na fuga, pairava ofegante num beiral de
telhado e enquanto o rapaz galgava outros com dificuldade tinha tempo de se refazer por um
momento. E então parecia tão livre.
Estúpida, tímida e livre. Não
vitoriosa como seria um galo em fuga. Que é que havia nas suas vísceras que fazia dela
um ser? A galinha é um ser. É verdade que não se poderia contar com ela para nada. Nem
ela própria contava consigo, como o galo crê na sua crista. Sua única vantagem é que
havia tantas galinhas que morrendo uma surgiria no mesmo instante outra tão igual como se
fora a mesma.
Afinal, numa das vezes em que parou
para gozar sua fuga, o rapaz alcançou. Entre gritos e penas, ela foi presa. em seguida
carregada em triunfo por uma asa através das telhas e pousada no chão da cozinha com
certa violência. Ainda tonta, sacudiu-se um pouco, em cacarejos roucos e indecisos.
Foi então que aconteceu. De pura
afobação a galinha pôs um ovo. Surpreendida, exausta. Talvez fosse prematuro. Mas logo
depois, nascida que fora para a maternidade, parecia uma velha mãe habituada. Sentou-se
sobre o ovo e assim ficou, respirando, abotoando e desabotoando os olhos. Seu coração,
tão pequeno num prato, solevava e abaixava as penas, enchendo de tepidez aquilo que nunca
passaria de um ovo. Só a menina estava perto e assistiu tudo estarrecida. Mal porém
conseguiu desvencilhar-se do acontecimento, despregou-se do chão e saiu aos gritos:
– Mamãe, mamãe, não mate mais a galinha, ela pôs um ovo! ela quer o nosso bem!
– Mamãe, mamãe, não mate mais a galinha, ela pôs um ovo! ela quer o nosso bem!
Todos correram de novo à cozinha e
rodearam mudos a jovem parturiente. Esquentando seu filho, esta não era nem suave nem
arisca, nem alegre nem triste, não era nada, era uma galinha. O que não sugeria nenhum
sentimento especial. O pai, a mãe e a filha olhavam já há algum tempo, sem propriamente
um pensamento qualquer. Nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha. O pai afinal
decidiu-se com certa brusquidão:
– Se você mandar matar esta galinha nunca mais comerei galinha na minha vida!
– Se você mandar matar esta galinha nunca mais comerei galinha na minha vida!
– Eu também! jurou a menina
com ardor.
A mãe, cansada, deu de ombros.
Inconsciente da vida que lhe fora
entregue, a galinha passou a morar com a família. A menina, de volta do colégio, jogava
a pasta longe sem interromper a corrida para a cozinha. O pai de vez em quando ainda se
lembrava: "E dizer que a obriguei a correr naquele estado!" A galinha tornara-se
a rainha da casa. Todos, menos ela, o sabiam. Continuou entre a cozinha e o terraço dos
fundos, usando suas duas capacidades: a da apatia e a do sobressalto.
Mas quando todos estavam quietos na
casa e pareciam tê-la esquecido, enchia-se de uma pequena coragem, resquícios da grande
fuga e circulava pelo ladrilho, o corpo avançando atrás da cabeça, pausado como num
campo, embora a pequena cabeça a traísse: mexendo-se rápida e vibrátil, com o velho
susto de sua espécie já mecanizado.
Uma vez ou outra, sempre mais
raramente, lembrava de novo a galinha que se recortara contra o ar à beira do telhado,
prestes a anunciar. Nesses momentos enchia os pulmões com o ar impuro da cozinha e, se
fosse dado às fêmeas cantar, ela não cantaria mas ficaria muito mais contente. Embora
nem nesses instantes a expressão de sua vazia cabeça se alterasse. Na fuga, no descanso,
quando deu à luz ou bicando milho – era uma cabeça de galinha, a mesma que fora
desenhada no começo dos séculos.
Até que um dia mataram-na,
comeram-na e passaram-se anos.
domingo, 6 de novembro de 2011
Sobre o Otimismo e o Pessimismo
.
(contra ambos)
.
É realmente óbvio que o pessimismo é um sentimento pequeno-burguês? Digo, num sentido obviamente marxista? Para responder a esta pergunta, deve-se formular outra, aparentemente imprópria: Há provérbios suficientes no mundo? Quer dizer: Há no mundo provérbios para tudo?
Falsa questão. O importante é que a resposta já foi colocada aproximadamente na forma de provérbio, quando dizemos, por exemplo: “Pobre não tem depressão”. Afirmação sádica, e, por isso mesmo, suspeita. Seja como for, alguma coisa aí parece verdadeira. Não sei, mas se tivesse o direito de inventar um provérbio, diria, nesse exato momento: “O pessimismo é um luxo de quem pode pensar na vida”.
Um operário, ou um operador de telemarketing, não tem tempo para o pessimismo. Pela mesma razão invertida, ou seja: o trabalhador não tem tempo de pensar na vida. Por isso, o operário que ainda não sabe o que isto significa, responde, ardentemente: “Sou otimista!”.
Mas a obviedade termina quando descobrimos que o pessimista (necessariamente pequeno-burguês) poderia não ser pessimista, exatamente por que, enquanto pequeno-burguês, instalado numa poltrona desconfortável, pensa.
Noutras palavras: apesar de pequeno-burguês, tem a possibilidade de não pensar como tal – exatamente por sê-lo. Não se trata de um mero jogo de palavras: o pequeno-burguês me entende.
Vejamos. O sentido mais largo da dialética, seu pressuposto generalíssimo, e constante, é aquele segundo o qual tudo é processo (contraditório e mutável). Sob o pano de fundo desse princípio geral, o que responderíamos ao pequeno-burguês caso nos perguntasse: “Qual o problema do pessimismo, se o mundo é realmente péssimo?”. Responderíamos:
- O pessimismo anula o pressuposto mais amplo da dialética: o processo, pelo qual o mundo tornou-se a tragédia que se vê. Ou seja: apesar de trágico, veio a ser como está sendo, ou seja: virá a ser outra coisa.
Ora, pequeníssimo-burguês, não se apavore. Mas pense o quão preocupante é dizer que o mundo “não tem mesmo jeito”. Não se trata, para você, de negar este ou aquele aspecto da luta de classes, mas de negar a própria luta de classes. Um marxista reconhece, evidentemente, que o mundo está péssimo. Ao mesmo tempo, levanta-se imediatamente contra aquele que, ao ouvi-lo falar, conclui que devemos, então, aderir ao pessimismo.
Já se pode ouvir: “Devemos ser otimistas, então?”. De onde vem esta voz? Conclusão inversa, também ela aparentemente óbvia? Do mesmo núcleo duro, irradiador de desespero: o cérebro empedernido do pequeno-burguês.
O pequeno-burguês é aquele que detesta as réguas, pois, além de centímetros, possuem também os malditos milímetros. Impaciente, não enxerga, por exemplo, os variados matizes de uma mesma cor. Na música, a idéia da pausa entre uma nota e outra o incomoda profundamente. Um poema é um gueto: não vale à pena passar. Não se trata, para ele, de “oito ou oitenta”. Mas de... “oito, ou oitocentos milhões”. Para ser coerente, deveria odiar-se a si mesmo!
Respondemos com o mesmo princípio:
- O otimismo também anula o pressuposto mais amplo da dialética, a idéia de processo. Embora o mundo tenha se tornado a tragédia que se vê como conseqüência de um longo processo histórico, que nos autoriza a enxergar a possibilidade real de uma saída, e nos obriga a abandonar o pessimismo cego (como se pudesse existir... pessimismo lúcido), isto não quer dizer, por outro lado, que este processo de saída é fácil, inevitável e espontâneo. Logo, também o otimismo é equivocado!
A medida do mundo, meu caro pequeníssimo-burguês, meu irmão, meu igual, não é a aparente imutabilidade de sua deprimente condição existencial.
Aliás, nada mais inventado por você mesmo do que sua própria condição. Não me refiro a sua agonia (por que esta é geral), mas à sensação de paralisia que te acomete, como se a paralisia de sua consciência (e de seu coração) fosse o reflexo de um mundo paralisado. Sua parada cardíaca, nobre egoísta, não significa que a vida parou de pulsar.
O maior dos otimistas mantém um pacto de alma – e de classe - com o maior dos pessimistas. Pessimista é derrotado, fraco, obscuro, desesperançado, fatalista... Não deixa de ser verdade. Já o otimista é o iludido mal intencionado, manipulador de consciências, voluntarioso... Outra verdade.
Mas, ambos, sempre tão zelosos de sua própria posição, que temem profundamente o anúncio de seu contrário. É o mesmo princípio que rege o casamento entre democracia ocidental, de um lado, e o terrorismo árabe, de outro.
Pessimistas fatalistas, e otimistas voluntaristas, Lukács pensava em vocês quando escreveu:
“Fatalismo e voluntarismo são contrários apenas numa perspectiva não-dialética e a-histórica. Para a concepção dialética da história, eles provam serem pólos que se complementam necessariamente, reflexos intelectuais em que o antagonismo da ordem social capitalista e a impossibilidade de resolver seus problemas em seu próprio domínio se exprimem claramente”.
A crítica dialética precisa ser incansável. É difícil? Claro, e penoso. Não sou eu, nem ninguém que o diz, pequeno-burguês, mas a própria realidade, a mesma, aliás, que dificulta enormemente a tarefa. Isto significa: quanto maior for a dificuldade, maior a necessidade de superá-la (à realidade), e não o contrário. (In) felizmente, é assim.
sábado, 5 de novembro de 2011
Parteiras tradicionais, e “imateriais”.
.
(A miséria carece de símbolos?)
(A miséria carece de símbolos?)
A beleza que resplandece nas manifestações de vida das camadas populares é reveladora de uma ambigüidade perigosa. Trata-se, no limite, de situá-la de um ponto de vista de classe. Mas, como se sabe, a consciência da exploração nem sempre é tranqüilizadora (e deveria?). O belo do feio, no caso a cultura popular, é freqüentemente esquiva ao observador, mascarando os bastidores sombrios de onde se origina. Claro, a consciência que não dorme sempre enxerga, nos mecanismos culturais de conservação do humano, uma forma pura de resistência.
Mas, as formas de resistência não raro se convertem, aos olhos do observador “crítico”, num consolo de consciência. A cultura, então, para todas as medidas, torna-se uma espécie de aspirina do sentimento de culpa. Sim, é preciso dizer: a estética não passa de um repasto mental para o sentimento pequeno-burguês da vida. Logo, desaparece a imensa carga histórica de sofrimentos e desamparo, e o modo característico de resistência da cultura popular, substituídos pelo mero desfrute, fazendo imaginar caretas desprezíveis de gozo sádico.
Tais sintomas de desfrute multiplicam-se atualmente. Movimento de apropriação indébita por parte da ideologia do consumo, claro: “estetização da miséria”. Assim, ficamos sabendo da proposta de tornar as chamadas “parteiras tradicionais” em patrimônio histórico imaterial do Brasil.
Os indignados se levantam. Equivocados, pois não se trata de uma luta simbólica, esta, aliás, também sintomática do desfrute, com feições paternalistas. No outro extremo, não menos simbólico: o regozijo. As mulheres parteiras revestem-se então de fetiche poético, curandeiras de mãos encantadas. Ignora-se a real condição da mulher[1] nas regiões mais pobres do Brasil, já que, como se sabe, trata-se de uma ordem social infinitamente distante do antigo esquema matriarcal. Mais uma vez: os miseráveis, não carecem de símbolos!
Sem dúvida, o trabalho das parteiras é um patrimônio do povo, um saber entre tantos que lhe pertence. De alguma maneira, o tombamento é legítimo pelo reconhecimento de uma prática secular. Mas, a valorização efetiva de toda a sabedoria popular passa necessariamente por uma negação essencial deste mesmo Estado que pretende resguardá-la – vale a pergunta: contra quem? Qual a palavra que traduz a possibilidade do povo recuperar sua memória sem depender de atos institucionais de qualquer espécie? Ou melhor: que ato é este?
Nota:
[1] – “Parto (mortal). Entre os astecas, as mulheres mortas de parto reúnem-se aos guerreiros sacrificados ou mortos em combate. Tomam o lugar deles ao meio-dia e acompanham o Sol na segunda metade de seu curso diurno. Com os guerreiros mortos em combate, as mulheres que morrem de parto formam o par dialético: evolução (manhã) / involução (tarde). Revestindo a face descendente dessa dualidade (entardecer), da luz rumo às trevas, as mulheres mortas fazem parte da expressão perigosa do sagrado. (...) A mulher que morre ao botar um filho no mundo assume, em todas as culturas, uma significação sagrada, que se aproxima à do sacrifício humano destinado a assegurar a perenidade, não apenas da vida, mas da tribo, da nação, da família”. (Dicionário de Símbolos – Jean Chevalier, Alain Gheerbrant – Rio de Janeiro: José Olympio, 1989)
terça-feira, 1 de novembro de 2011
domingo, 30 de outubro de 2011
BRECHT NO CATIVEIRO DAS FORÇAS PRODUTIVAS
Por Iná Camargo Costa
As fúrias do interesse privado são as paixões mais violentas, mesquinhas e odiosas do coração humano.
Marx, O Capital
O capitalismo não morrerá de morte natural: ele precisa ser morto. Para isso é preciso que a luta de classes apareça como uma categoria natural. Então a humanidade será o objetivo da luta de classes.
Brecht, Processo de três vinténs
Crise estética e teórica
Para explicar que o cinema deveria ser objeto de estudos comparados com o teatro, Eisenstein argumenta que só é possível dominar a metodologia específica do cinema através da comparação crítica com formas primitivas mais básicas do espetáculo. Neste texto de 1932, o agora professor está pensando nas conhecidas objeções que, como outros veteranos do cinema mudo, fazia aos adeptos do teatro enlatado no qual patinavam os filmes sonoros, pois ainda estavam longe do horizonte os desenvolvimentos técnicos que libertariam câmeras e atores da prisão imposta pelos executivos dos estúdios submetidos à precariedade técnica dos primeiros microfones.
Mas não era só para explicar que teatro não é cinema ou que bom cinema não é meramente teatro filmado que Eisenstein fazia estudos comparados de teatro, cinema e também de literatura. Ele queria que seus alunos entendessem o cinema como o último rebento da família multissecular do show business, pois achava que sem entender como se deu a industrialização das artes do espetáculo (a maneira conservadora de referir o processo de submissão destas forças produtivas às determinações do capital), nenhuma discussão sobre cinema tem fôlego. Afinal, ele definira cinema como "muitas sociedades anônimas, muito giro de capital, muitas estrelas, muitos dramas" .
As experiências alemãs de Brecht com estes novos meios de produção também apontam para a mesma necessidade e seus relatos avançam reflexões obrigatórias para interessados nas relações entre teatro e cinema. O Processo de três vinténs dá conta do confronto com a empresa que filmou sua Ópera de três vinténs (direção de Pabst) e os escritos sobre Kuhle Wampe dão conta de uma tentativa, ainda hoje atual, de fazer cinema independente que acabou, por isso mesmo, tropeçando nos obstáculos da distribuição e da censura. Nos dois casos, Brecht entendeu que participara de dois reveladores experimentos sociológicos e por isso registrou suas reflexões a respeito pois, ao que tudo indica, percebeu que topara com uma espécie de limite da comédia ideológica do século XX .
Uma demanda barata
Restringindo um processo que consumiu cerca de trinta anos aos fatos que o delimitam – da descoberta do cinema como um ramo lucrativo do show business em 1895 até o seu controle monopolístico pelo capital financeiro em 1926-1929 –, pode-se dizer que, quando venderam os direitos autorais da Ópera de três vinténs ao estúdio que produziu o filme, Brecht e Weill caíram na rede do filme musical enlatado, a última palavra em matéria de novidade cinematográfica, inaugurada oficialmente em 1927, testes de mercado à parte, com o filme da Warner Brothers, O cantor de jazz. Quando da assinatura do contrato com a Nero Filmes, em 21 de maio de 1930, talvez nossos artistas não soubessem ainda que a corrida pelo controle do mercado cinematográfico mundial estava prestes a se decidir por uma espécie de empate técnico: o mundo ficou dividido nesse mesmo ano, em acordo firmado em Paris, entre americanos e alemães que detinham o monopólio das patentes padronizadas dos equipamentos necessários à filmagem e exibição de filmes sonoros. Parte do mercado europeu ficou com os alemães, menos a União Soviética, que ficou para os americanos, assim como os Estados Unidos . E o padrão americano de produtividade estabeleceu que filmar peças musicais de sucesso era sinônimo de lucros seguros. Também fazia parte da receita americana, após os experimentos franceses, produzir filmes que correspondessem tão fielmente quanto possível ao espetáculo teatral, mesmo com alguma "perda de qualidade", compreensível e aceitável em se tratando de "produto cultural industrializado" (é só ver o caráter abertamente apologético das campanhas de publicidade da época).
A idéia de fazer teatro enlatado para concorrer diretamente com o produto mais prestigiado do show business foi lançada na França por americanos radicados em Paris (os irmãos Lafitte), enredados até o pescoço com a indústria cultural (jornal e editoras) . No ano de 1908 eles realizaram a dupla proeza de lançar um filme com o elenco da Comédia Francesa e, com ele, o gênero "filme de arte" que desde então é marca comercial. Do ponto de vista mercadológico, a operação significou conquistar para este produto a "classe A", ou o segmento mais abonado dos consumidores que até então o desprezavam como "coisa de pobre", além de trazer para o trabalho nas fábricas a mais alta categoria de trabalhadores da hierarquia teatral, como Sarah Bernhardt. A partir deste ano, os fabricantes de filmes americanos começaram a assediar os elencos teatrais dos principais centros produtores (Nova York, Chicago e depois Los Angeles, uma das razões da migração do cinema para Hollywood), numa longa campanha que só terminou com a vitória da indústria depois da introdução do cinema sonoro. Mas os americanos nunca perderam tempo com essa história de "filme de arte": seu jogo sempre foi explicitamente assumido como um problema de mercado.
Para um profissional do teatro alemão como Brecht, o caráter reacionário desta segmentação mercadológica era muito claro: ao mesmo tempo em que rifara o público popular inicial dos curta-metragem mudos, o teatro enlatado de longa metragem, ainda mudo (a definição negociada do padrão para cerca de uma hora e meia de duração data dos últimos anos da década de 1910), conquistara o público de classe média requentando os "clássicos" do drama burguês do século XIX e submetendo o amplo repertório técnico já desenvolvido pelos cineastas pioneiros à camisa de força das exigências e convenções atualizadas daquele drama que, nas práticas teatrais da República de Weimar, estavam devidamente enterradas, como a própria Ópera de três vinténs testemunha. A introdução do filme sonoro apenas completou a operação estético-ideológica (para não dizer nada do golpe econômico), radicalizando o problema já instalado nas pantomimas dramáticas.
Esta convicção está por trás de pelo menos um aspecto do mal entendido presente nos termos do contrato assinado por Brecht com a Nero Filmes que pode ser assim resumido: a companhia cinematográfica estava interessada em somente enlatar a peça, que fora um dos maiores sucessos de bilheteria do teatro alemão nos anos de 1928 e 1929 enquanto Brecht, que sabia o que fizera no teatro mas ainda não conhecia o terreno onde estava pisando, acreditou no que diziam as cláusulas relativas a seu direito de adaptação do texto porque achou que a empresa estivesse interessada em fazer do filme um experimento equivalente ao realizado no palco. Ele confessa abertamente esta ingenuidade, que demorou um pouco para entender.
Para Brecht, tal experimento começava pela adaptação do texto por ele mesmo, o autor. Não que acreditasse, como rezava o contrato, em propriedade das idéias, mas por acreditar em fidelidade a seu material. Como explicou, se o filme, com as técnicas de que dispunha, não desenvolvesse os materiais que na peça ficaram apenas pressupostos, o resultado, por mais que se aproximasse do ocorrido no palco, ficaria aquém do seu potencial e assim configuraria (como ele acha que aconteceu) um retrocesso artístico. Simplificando bastante a história, digamos que a certa altura ele estava alegremente redigindo o seu roteiro quando soube que as filmagens já tinham começado. Dirigiu-se ao local do crime e nem ao menos lhe permitiram ver o que estava acontecendo: foi impedido de entrar no estúdio. Abriu um processo contra a empresa e descobriu que, ao contrário do que pensava, na opinião do tribunal ele descumprira várias cláusulas. Para começar, dificultara o trabalho da empresa desde o início, insistindo, por exemplo, em permanecer no sul da França, onde se encontrava, ao invés de seguir para Berlim, onde ficava a empresa, para tratar das negociações; um recalcitrante, enfim. Mais grave que isso: mesmo sabendo que a empresa já alugara os estúdios e contratara o elenco, não apresentara a primeira sinopse dentro do prazo estipulado. Por essas e muitas outras, o tribunal concluiu que a empresa exercia o seu direito ao fazer o que fez: contratar outros escritores e fazer o que bem entendesse com o texto "original" (desde que mantivesse a idéia básica) . Por estes motivos, a primeira sentença foi contra ele. Recorrendo dela, acabou chegando a um acordo pelo qual foi modestamente indenizado.
Não é possível reconstituir agora todas as lições que Brecht aprendeu no processo como um todo, mas vale a pena reproduzir algumas observações cujas consequências continuam presentes como um desafio para quem ainda se interessa por teatro. A mais importante: o Processo de três vinténs demonstra até que ponto avançou a transformação de valores intelectuais em mercadoria . O próprio sistema legal faz parte disso, pois a Justiça espera atrás de portas que só se abrem para quem tem dinheiro.
O objetivo do processo, já que o artista não tinha dinheiro para abrir as portas da justiça, passou a ser o de desenvolver na prática uma crítica de maior alcance às idéias liberais sobre arte no capitalismo. Através dele foi possível demonstrar que a justiça do Estado burguês não hesita em violar suas próprias leis quando está em jogo a proteção dos interesses financeiros do capital. Todos sabem que a lei assegura a inviolabilidade da propriedade intelectual. Mas a validade dessa propriedade é restringida por suas consequências econômicas. Quando se trata de cinema, o risco é tão grande que a expectativa de lucro na produção da mercadoria pesa mais que o direito do escritor à sua propriedade imaterial (às suas idéias) .
O cinema só se interessa pela arte se tiver garantias de que terá condição de a violar. E não adianta dizer que a arte não precisa do cinema pois, sem ele, quem se dedica às artes do espetáculo está privado dos meios de produção ao mesmo tempo em que se vê forçado a falar por meio de aparatos cada vez mais complexos, sem os quais nos expressamos através de meios cada vez menos adequados. Independente do gosto geral, as velhas formas (inclusive as impressas) são afetadas pelos novos meios e não sobreviverão imunes a eles. O avanço tecnológico sobre a produção literária é irreversível .
No caso do teatro, é ainda mais evidente o impacto do cinema e é preciso tirar dele as consequências avançadas. O tratamento que o cinema dá ao ator, por exemplo, é muito instrutivo. Como neste meio a personagem é vista de fora, o ator de cinema só interessa segundo a sua função. Qualquer motivação interior é excluída; a vida interior do personagem nunca fornece a causa principal da ação e raramente seu principal resultado. Isto no cinema mudo. Já o cinema sonoro, que depende do grande estúdio, além de jogar esta forma de arte nas convenções (vida interior, etc., tudo através do diálogo dramático) que o meio tornou ultrapassadas, é ao mesmo tempo o processo em que os produtores (autores, atores, técnicos) são expropriados dos seus meios de produção; sinaliza, portanto, a proletarização dos produtores. Uma vez transformados em proletários, os trabalhadores do teatro e do cinema, se quiserem fazer arte e não mercadoria, encontrarão na peça didática um método decisivo para alcançar seu objetivo. Mas isto depende de compreenderem que a peça didática põe na ordem do dia a transferência dos meios de produção aos verdadeiros produtores, tema que Walter Benjamin desenvolverá em seguida e ao qual retornaremos.
Como o trabalhador manual, o trabalhador intelectual (categoria em que estão os artistas) só tem a sua força de trabalho a oferecer no mercado. Ele é a sua força de trabalho e nada mais que isso. Assim como o trabalhador manual, ele precisa cada vez mais que os meios de produção explorem a sua força de trabalho, porque a produção intelectual vai ficando cada vez mais "técnica" . Aliás, intelectuais e artistas, mesmo sob condições de trabalho ignominiosas, se consideram livres das determinações às quais se submetem os trabalhadores manuais porque entendem por liberdade a livre concorrência e a liberdade a que aspiram é a livre concorrência na venda das suas opiniões, conhecimentos e habilidades técnicas . Eles nem ao menos admitem ser chamados de trabalhadores intelectuais, pois se vêem como empreendedores, ou como pequenos burgueses. Dentre estes há ainda os que acreditam na liberdade de renunciar aos novos instrumentos de trabalho, mas esta é uma liberdade que se exerce fora do processo produtivo, pois não existem mais ciência nem arte livres da influência da moderna indústria: ciência e arte serão mercadorias como um todo ou não existirão.
Nas mãos dos produtores executivos (impostos às companhias cinematográficas pelo capital financeiro para proteger seus investimentos), gerenciadores que só precisam entender de cálculos e de administração de pessoal, e manipulados por diretores que, no domínio da arte e da tecnologia, têm o raciocínio de uma ostra (para produzir o já conhecido – a mercadoria), as possibilidades que os novos meios de produção disponibilizam simplesmente não podem ser exploradas. Isto porque produtores e diretores se puseram a fazer "arte" no sentido definido pelos irmãos Lafitte. Se os executivos do cinema não estivessem a serviço do capital, mas genuinamente interessados (como alguns pioneiros) no desenvolvimento das forças produtivas da própria indústria que administram, bastaria que manejassem como cientistas os "seus" meios de produção. Nesta hipótese, eles entenderiam que câmeras, trilhos, microfones, luzes, etc. servem para documentar o comportamento visível, mostrar acontecimentos simultâneos, interações humanas dos mais variados tipos. E como o simples documentar por si só não revela a reificação das relações humanas, é ainda preciso analisar as suas manifestações e, a partir dos documentos produzidos e analisados, construir as imagens, inventar, criar algo que necessariamente vai aparecer como artificial à luz das convenções (dramáticas) que pautam a produção e a crítica cinematográfica. Enfim, é preciso criar uma nova idéia de arte para efetivamente desenvolver a força produtiva da indústria cinematográfica, que se encontra aprisionada.
A libertação da força produtiva do cinema depende da apropriação dos meios de produção pelos verdadeiros produtores, que são os artistas e os técnicos (todas aquelas especialidades que aparecem nos créditos finais dos filmes). O mesmo vale para os demais meios de produção intelectual, pois todos estão presos nas garras do capital. Não é demais insistir: o modelo é a peça didática que não tem sentido se os meios de produção não estiverem sob o controle dos envolvidos. Meios de produção, no caso do cinema, desde os anos 20 significam também meios de distribuição e exibição, como demonstram os seguidos desastres da produção independente.
Fetichismo da tecnologia
A experiência do filme Kuhle Wampe mostrou a Brecht e demais produtores independentes que o papel determinante dos interesses do capital tem maior alcance do que normalmente supõem os artistas. Distribuidores, por exemplo, controlam o conteúdo dos filmes num grau que é subestimado até mesmo nos círculos profissionais. Não querem problemas de censura e muito menos de bilheteria . Por isso determinam cortes de cenas ou sequências em filmes prontos sem a menor cerimônia. No entanto, observa Brecht, os críticos profissionais, aos quais chama metafísicos da cultura, só denunciam o papel nefasto dos distribuidores que "identificam demandas" porque acreditam que estes usurparam uma função que seria sua – a de escolher a coisa certa para o consumidor. Estes naturalmente se esquecem de que, em aliança com os distribuidores, trabalham as empresas de propaganda, onde estão os "físicos" do gosto do público. Por certo nem físicos nem metafísicos entendem o que seja este gosto do público mas, como a própria hierarquia do cinema demonstra, não é o conhecimento de alguma coisa que torna alguém capaz de a explorar e, como sabem os leitores de Simmel, está cientificamente demonstrado que, em questão de mercado cultural, a "média" sempre está muito próxima do nível mais baixo. Os metafísicos da cultura jamais se rebaixariam a estudar, por exemplo, o valor social do sentimentalismo que tanto os desgosta e, mesmo se o quisessem, não dispõem do conhecimento e da metodologia necessários a tal tipo de pesquisa. Pelas mesmas razões, jamais compreenderão que um certo tipo de humor, e sua grosseria especial, não apenas é produto de condições materiais, mas ainda é um meio de produção.
A luta dos intelectuais progressistas contra a mercantilização da arte, da ciência e da cultura é baseada na premissa de que as massas e os intelectuais que se vendem não sabem quais são os seus interesses. Mas as massas têm menos interesses estéticos que interesses políticos e por isso a sugestão de Schiller, de fazer da questão estética (científica, cultural) uma questão política, nunca foi tão necessária como hoje. É preciso entender que o mau gosto das massas está mais profundamente enraizado na realidade que o bom gosto dos intelectuais, pois o gosto do público é expressão de interesses sociais e não mudará por meio de melhores filmes, mas pela mudança das circunstâncias que determinam o nível desses filmes.
Por outro lado, os que acreditam que o fato de ser mercadoria não afeta um filme não têm idéia do poder modificador da mercadoria. Só os que fecham os olhos para o enorme poder revolucionário que tudo arrasta para a circulação de mercadorias, sem deixar nada de fora, podem supor que obras de arte, de qualquer gênero, ficariam excluídas. Há muito tempo o próprio processo de comunicação nada mais é que ligar tudo e todos na forma de mercadorias.
A chamada crítica cinematográfica inventou uma fórmula funcional para colocar o pior tipo de lixo no mercado. Ela reza que um filme pode ser regressivo no conteúdo e progressista na forma. Pois bem: a referência à qualidade independente do significado é regressiva . Marx já disse que a forma só é boa quando é a forma do conteúdo. Em seu fetichismo tecnológico, a propaganda do cinema (o verdadeiro nome do que passa por crítica) confunde a habilidade de mostrar as coisas de maneira apetitosa com desenvolvimento tecnológico. Há uma dialética do desenvolvimento tecnológico – com perdas e danos incalculáveis – que passa despercebida porque ninguém se pergunta se é verdade que os filmes precisam continuar fazendo a mesma coisa que o romance e o teatro faziam no século XIX. A síntese desta relação com a tecnologia é a idéia de que tudo pode ser perdoado se for "bem feito" (critério forjado pelos empresários do teatro francês do início do século XIX ).
A tecnologia do cinema serve para criar alguma coisa a partir do nada. Por nada, entenda-se um monte de idéias triviais, observações imprecisas, proposições inexatas e asserções indemonstráveis. Nem sempre este nada foi nada; nasceu de alguma coisa. Por exemplo, de romances que continham uma série de observações precisas, afirmações exatas e proposições demonstráveis. A começar pela receita americana de roteirização (baseada na receita da "peça-bem-feita"), que foi definida em meados dos anos de 1910, quando começaram a ser feitos os filmes de longa metragem, a tecnologia cinematográfica necessária para criar alguma coisa a partir de nada primeiro foi obrigada a criar esse nada a partir de alguma coisa. Este é o segredo da adaptação de uma obra literária . Esta é uma prática da qual a tecnologia não pode ser afastada: ela não pode ser útil para criar alguma coisa a partir de alguma coisa. É, portanto, a tecnologia que realiza os truques, porque não é arte e sim truque transformar uma porção de lixo em sobremesa apetitosa. Mas, quando mudar a função social do cinema, todas as grandes realizações da "técnica" serão jogadas no aterro sanitário.
À margem da vida real
Assim como foi feito com o Processo de três vinténs, da experiência do filme Kuhle Wampe serão destacadas algumas observações gerais, a começar pela tentativa de, através da produção independente, assegurar a liberdade artística. Com as lições do primeiro processo, agora os produtores trataram de garantir a sua condição de proprietários dos direitos autorais em sentido legal. Isto lhes custou o direito à remuneração habitual, mas foram conquistadas liberdades que de outra forma não seriam factíveis. O grupo dos produtores era formado por dois roteiristas, um diretor, um compositor, um administrador e um advogado. A primeira lição, que custou muito trabalho, foi a de que a organização é parte essencial da obra de arte. Esta organização só foi possível porque a obra como um todo era política e por isso contou com o apoio militante de outras organizações políticas, inclusive um grupo de teatro de agitprop.
Terminado o filme (o que não se deu sem enormes percalços), seus produtores descobriram mais alguns critérios de mercado. Primeiro, que filmes artisticamente válidos são comercialmente perniciosos porque estragam o gosto do público, aprimorando-o. De qualquer modo, eles não são mesmo comerciais e, se o fossem, o distribuidor capitalista assumiria o risco desse perigoso aprimoramento do gosto por motivos ligados à concorrência – do mesmo modo que se arrisca ao comercializar propaganda comunista. O segundo critério, o da relação entre novidade e valor comercial, revelou que um filme comunista não tem mais valor comercial porque o comunismo não é mais uma ameaça ao público burguês. Ele não desperta mais interesse . O terceiro, ainda mais relevante: uma empresa só se dispôs a comercializar Kuhle Wampe depois que atores, roteiristas, produtores e diretor abriram mão de seus cachês (leia-se: a mercadoria foi doada ao distribuidor). Fim de romance: o filme teve exibição restrita em Berlim, Paris e Moscou e, com o advento do regime nazista, não se falou mais no assunto.
O fato de investidores do mercado cinematográfico não acreditarem mais na ameaça comunista não correspondia necessariamente à opinião dos administradores do Estado alemão, sobretudo os funcionários da polícia. Submetido à censura, o filme foi proibido, basicamente por dois problemas. Primeiro, porque mostra como certos grupos da classe trabalhadora se acomodam e seguem passivamente para o brejo. O censor entendeu este ponto como um ataque à social-democracia, o que era proibido por lei, assim como ataques à igreja e a qualquer instituição que apoiasse o Estado. O segundo diz respeito à trajetória de um jovem desempregado que, vítima dos cortes nos programas de assistência aos jovens, comete suicídio logo no início do filme. O censor entendeu este tópico como um ataque ao presidente que recentemente assinara alguns decretos emergenciais e vinha sendo acusado de insuficiente preocupação com o bem estar dos trabalhadores.
Como os produtores recorreram da decisão, foi-lhes concedida uma audiência, na qual o censor apresentou, entre outros, o seguinte argumento instrutivo: o problema é o modo como vocês mostram o suicídio desse trabalhador desempregado. Esse modo não está de acordo com o interesse geral que eu defendo por dever de ofício. Lamento, mas tenho que fazer uma censura de caráter estético: este trabalho não é inteiramente humano. Vocês não criaram uma pessoa, mas um tipo. Seu desempregado não é um indivíduo real, uma pessoa de carne e osso, distinta de qualquer outra, com suas preocupações particulares, alegrias particulares, seu destino particular. Ele é apresentado de modo muito superficial. Sabe-se muito pouco a respeito dele e, no entanto, as consequências são de natureza política, o que me obriga a ser contra a liberação do filme. Ele está afirmando que o suicídio é típico, que não é simplesmente a ação deste ou daquele indivíduo com disposição patológica, mas o destino de toda uma classe social. Seu ponto de vista é o de que a sociedade induz os jovens ao suicídio negando-lhes a possibilidade de trabalhar. Para agravar o mal feito, vocês ainda indicam o que devem fazer os desempregados para mudar a situação, não se comportando como artistas. Ninguém os impediria de mostrar o destino chocante de um indivíduo. Mas este suicídio nem ao menos é um gesto impulsivo. O público não terá o desejo de impedi-lo, o que seria uma reação adequada a uma apresentação artística, humana, compassiva. O personagem se mata como quem demonstra o jeito de descascar um pepino!
É bom lembrar que a mesma censura havia liberado, uma semana antes, um filme nazista chamado Mudança de destino, que certamente devia ser em grau máximo uma apresentação artística, humana e compassiva. Mais importante do que este registro en passant, entretanto, é a aproximação que Brecht faz entre os argumentos do censor e os dos críticos de cinema, inclusive os comunistas (o periódico Rote Fahne, por exemplo, criticou a "representação equivocada" do proletariado, além de reclamar da ausência de palavras de ordem).
Por sua impressionante atualidade, vale a pena encerrar este levantamento de tópicos com as observações de Brecht sobre a prática mais ampla da censura que passa por crítica. Para entender como ela funciona, diz nosso autor, deve-se concebê-la como um processo esquizofrênico pequeno burguês com a seguinte estrutura: eu me digo que eu preciso me reprimir. O pequeno burguês sabe que não pode digerir tudo o que come. Os que censuram filmes por razões de gosto pertencem a estratos sociais que ignoram seus próprios interesses políticos. Vivem uma situação impossível porque teriam que ser capazes de desejar a arte política, não por razões artísticas, mas por razões políticas, pois não há argumentos estéticos contra a censura política. Para começar, eles teriam que estar em condições de apreender criticamente a situação político-cultural dos consumidores de arte, que é a deles próprios, ao invés de criticar apenas o gosto sintomático "dessa gente" , pois sabem que é quase impossível situar-se acima da pequena burguesia, para a qual essencialmente os filmes são feitos.
Estes pequenos burgueses lamentam o rumo que as coisas da "cultura" tomaram. Melhor do que lamentar, é entender como funciona a realidade e compreender no que já aconteceu quais são as tendências revolucionárias e quais as reacionárias. Para isso, é preciso assumir uma perspectiva ativa e participante, de parte interessada num campo de forças opostas, pois o sistema social é radicalmente antagonístico e não se dá a conhecer aos que adotam a perspectiva "objetiva" e "desinteressada", cara à imprensa liberal .
Proletarização dos artistas e intelectuais
Com vistas às consequências políticas destes experimentos, que já estão mais ou menos indicadas, é útil lembrar, de preferência por extenso, o que Marx dizia na Ideologia alemã: os pensamentos da classe dominante são também, em todas as épocas, os pensamentos dominantes, ou seja, a classe que tem o poder material dominante numa dada sociedade é também o poder espiritual dominante. A classe que dispõe dos meios de produção material dispõe igualmente dos meios de produção intelectual, de modo que o pensamento daqueles a quem são recusados os meios de produção intelectual está submetido igualmente à classe dominante. [...] Os indivíduos que constituem a classe dominante possuem entre outras coisas uma consciência e é em consequência disso que pensam; na medida em que dominam enquanto classe e determinam uma época histórica em toda a sua extensão, é lógico que esses indivíduos dominem em todos os sentidos, que tenham, entre outras, uma posição dominante como seres pensantes, como produtores de idéias, que regulamentem a produção e a distribuição dos pensamentos da sua época; as suas idéias são, portanto, as idéias dominantes da sua época .
Para o que nos interessa, os experimentos de Brecht são da ordem do trabalho coletivo, do qual seria preciso tirar as consequências teóricas, o que não fazem os intelectuais, como seria do seu dever, porque estão submetidos às exigências da produção espiritual determinada pela classe dominante e desprovidos dos meios de produção espiritual. Para começar, porque não se dão conta de que participam de um coletivo. O crítico de jornal, por exemplo, compartilha as opiniões dos demais jornalistas e participa do desenvolvimento da opinião como um todo. Aqui funciona um coletivo que torna irreconhecível a opinião individual. O cinema, como todo mundo sabe, só existe enquanto trabalho coletivo. Mas na indústria cinematográfica, ao contrário da produção independente, "coletivo" não é o que habitualmente se supõe. Sempre há quem define, quem decide. A engrenagem funciona como uma espécie de caricatura da divisão do conhecimento: um técnico filma porque o diretor não tem a menor idéia de como operar uma câmera, outro faz a montagem porque o operador da câmera não tem idéia do filme como um todo e alguém escreve o roteiro porque o público tem preguiça de fazê-lo. É por isso que interessa tornar irreconhecível a contribuição individual. No capitalismo a idéia de coletivo exclui o público e a partir dele é criado um falso coletivo.
Um filme é produzido coletivamente e no entanto é percebido como obra de arte antes que o conceito de arte tenha incorporado o conceito de trabalho coletivo. Uma economia planificada – a da ditadura do mercado – já se estabeleceu na produção da arte sem que o conceito de arte tenha se livrado do valor que a ideologia dominante atribui a personalidade, liberdade individual e superstições conexas. O cinema como trabalho coletivo permite que se percebam essas inconsistências ideológicas: a cultura burguesa não é o que ela pensa sobre as práticas burguesas, e a distância que separa esta cultura de suas práticas pode ser calculada pela espessura de um fio de cabelo.
Não será cultivando o que Walter Benjamin chamou "teologia da arte" – a doutrina da arte pura – que artistas e intelectuais encontrarão respostas às perguntas por seu papel e o da arte na sociedade capitalista. Estas serão encontradas na luta por um lugar na produção, o que equivale a dizer na luta pela libertação das forças produtivas (porque artistas e intelectuais desempregados, como todas as demais categorias de trabalhadores, também configuram desperdício de forças produtivas).
O papel da produção ou, mais exatamente, o constante crescimento deste papel, é decisivo em grau máximo porque ele revoluciona todo comportamento e todas as idéias. Justiça, liberdade, personagem, tudo se tornou função da produção; são suas variáveis. Nenhum ato cognitivo é mais possível fora do processo de produção. É preciso produzir para conhecer e produção significa estar no processo de produção. Até o lugar do revolucionário e o da revolução é o processo de produção. Um exemplo simples (do filme Kuhle Wampe) ilustra este teorema elementar: na revolução o desempregado tem um papel surpreendentemente pequeno, mas deste papel menor emerge imediatamente um papel de protagonista quando o desemprego começa a ameaçar seriamente a produção.
Assinar:
Postagens (Atom)