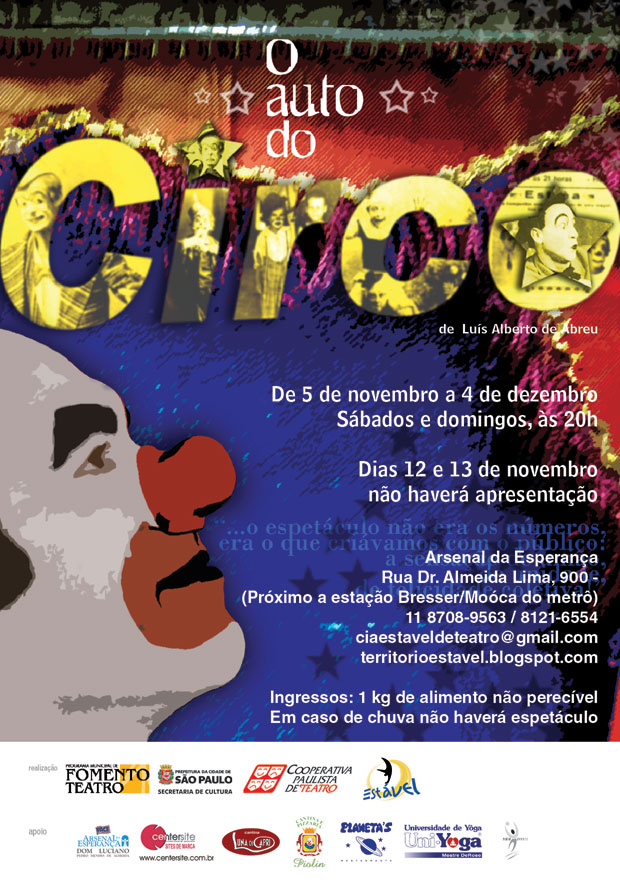Matéria original: http://www.viceland.com/br/v1n4/htdocs/documentary-crisis-125.php?page=2
A pintura a óleo é praticada há cerca de 600 anos. A serigrafia foi
desenvolvida na China, durante a dinastia Song no século X, ou melhor,
há uns 1.000 anos. Talvez o poema mais antigo de que se tenha notícia
seja A Epopeia de Gilgamesh, redigido em escrita cuneiforme no
século III a.C., o que faz a poesia escrita ter uns 5.000 anos de idade.
A música provavelmente surgiu junto com o homo sapiens na África
como um elemento intrínseco à cultura humana, há 160 mil anos. Em
comparação, o cinema tem o equivalente ao tempo de vida de uma
tartaruga: aproximadamente 124 anos. Mas, apesar de ainda ser um bebê na
escala de tempo das artes, enfrenta hoje uma crise existencial.
Saudado por Lênin como “a forma de arte mais importante”, o cinema que, mesmo em plena infância, fascinou o mundo até uma geração atrás, hoje luta pela sobrevivência, relevância, público e até mesmo para voltar a ser objeto de análise e debate. Considerando que o cinema nasceu do capitalismo industrial desordenado, essa condição de crise não é tão estranha. Na verdade, já que a característica principal do capitalismo é a crise perpétua, faz sentido que o cinema—uma lasca do grande bloco—seja marcado pela mesma histeria fabricada típica do sistema que o gerou.
Quando passou a ser mais do que uma simples novidade, o cinema era uma extensão do teatro, uma forma de contar histórias sobre o mundo. Mas, ao contrário do teatro, o cinema foi a contribuição da era industrial para o mundo das artes e assim—diferente de outros meios mais antigos—inevitavelmente lembrava as novas indústrias, como a siderúrgica e petrolífera, com as mesmas divisões de trabalho estratificadas, sindicatos, greves, contratos traiçoeiros, exploração impiedosa e uma elite proprietária de mentalidade monopolista.
Como a propriedade dos meios de produção é a questão central em tais indústrias, as grandes empresas do ramo cinematográfico—Warner Bros. e MGM—garantiram controle total sobre filmes, processos, suprimentos, trabalhadores (atores e diretores eram comprados e presos a contratos) e distribuição a fim de sufocar, destruir ou desencorajar a concorrência.
Assim como o rock em sua fase “clássica”, o cinema nos Estados Unidos era, quase desde o início, uma empreitada cujos custos apenas os estúdios de Hollywood conseguiam bancar, com um punhado de “autores” ilustres responsáveis por oferecer suas novas dádivas a cada temporada. A humanidade foi hipnotizada pelas fábulas que lhes contavam nos cinemas hermeticamente fechados que se encontravam a cada esquina. Tornar-se um participante do “cinema” era um sonho glorioso. Aspirantes a atrizes se jogavam contra o megalito de Hollywood como alimentos sacrificiais, e tornar-se diretor era uma ambição fantasiosa, ridícula, comparável a querer ser presidente ou rei do Universo.
Quando a tecnologia de vídeo proliferou, no início dos anos 80, ela foi, como todas as novas parafernálias da cultura de consumo, saudada como uma revolução para o homem comum. O vídeo era barato e portátil, e não estava sob o monopólio que a indústria cinematográfica mantinha sobre os meios de produção. Agora, qualquer pessoa que tivesse cabeça e ambição podia fazer um filme, e não mais apenas aqueles com conexão no showbiz, vínculos familiares ou disposição para um teste do sofá. Como a maioria dos supostos triunfos do “povo”, era na verdade o resultado do processo de imposição de uma indústria (a indústria eletrônica japonesa) sobre outra (a indústria cinematográfica de Hollywood).
O único problema com o vídeo era sua crueza e feiura. A imagem era tosca, e não tinha a mesma sensibilidade mágica que os espectadores viam na película. Assim, apesar da proliferação em massa quase imediata de câmeras de vídeo, poucos filmes dignos de nota foram produzidos com o novo equipamento. Em vez disso, as hoje onipresentes filmadoras foram relegadas a shows de rock underground até que outro uso—o registro de atos sexuais—fosse descoberto.
Ainda assim, Hollywood respondeu à ameaça da democracia do vídeo, tornando seus meios de produção ainda mais inacessíveis. Os filmes passaram a ser dirigidos por supercelebridades e os efeitos especiais se tornaram cada vez mais sofisticados. A narrativa deixou de ser prioridade em favor das maquiagens dos monstros, das explosões interestelares e das mega-estrelas. Uma vez que a TV a cabo e a locação de vídeos continuava a estraçalhar os lucros das salas de cinema, o desejo de produzir espetáculos se tornou cada vez mais e mais a principal preocupação dos estúdios. Para que um filme fosse lançado no circuito, deveria parecer um passeio de montanha-russa com todos as suas excitações nauseabundas. Cortes de quebrar o pescoço, enquadramentos nervosos, volume de som insuportável e violência explícita e bizarra fizeram muitos filmes, ironicamente, serem inassistíveis. Uma vez ou outra, por descuido, nos vemos em uma sala de cinema, seduzidos por uma enxurrada de propaganda, convencidos de que assistir a um determinado filme é indispensável para a continuidade da nossa educação cultural. Então, humilhados, degradados, insultados e R$ 20 mais pobres, juramos nunca mais cair nessa. Essa lição de vida é aprendida, em média, uma vez por ano. Na verdade, assistir a filmes no cinema é geralmente uma forma de nostalgia.
Esse declínio já vem acontecendo há algum tempo. Jean-Luc Godard afirmou memoravelmente em uma entrevista que, quando descobriu o cinema nos anos 50, este “já estava acabado”. Realmente, nos Estados Unidos de 1946, com uma população de 141 milhões de habitantes, vendia-se 100 milhões de ingressos de cinema por semana—um total de 36,5 bilhões de ingressos no ano. Hoje, com o dobro de habitantes, vendeu-se apenas 1,4 bilhão de ingressos em 2007 em toda a América do Norte (incluindo o Canadá).
Claro, as pessoas ainda assistem passivamente às peças moralistas dos seus mestres, mas agora em casa, na televisão, e a qualidade da imagem já não é mais tão importante. Pressentindo uma oportunidade, os videomakers—pessoas não necessariamente consagradas pelos estúdios—tentaram explorar o enorme potencial de desenvolvimento de uma indústria cinematográfica descentralizada formada por autores de verdade e entusiastas, similar à cena descentralizada dos músicos, artistas plásticos e poetas. Mas a vocação inicial da câmera de vídeo como uma ferramenta documental nunca foi abalada. Tampouco o desdém generalizado por algo que podia filmar qualquer um e que estava ao alcance financeiro de todos. Em uma sociedade cujo desprezo pelos pobres é institucionalizado, o próprio fato de o vídeo ser barato era considerado um defeito.
Por causa das suas raízes no registro de shows e pornografia, o vídeo era considerado uma “verdade”. Por isso, a nova geração de diretores, excluídos do uso de película pelos altos custos, se ocuparam em fazer “documentários” em vez de dramas com suas câmeras de vídeo. Hoje, produz-se documentários em uma escala inacreditável. São, em geral, perfis de alguma pessoa incomum, como um arqueiro sem braços ou um vegetariano que pratica a caça ou uma crítica política sobre alguma guerra ou uma pesquisa histórica em homenagem a uma banda de rock qualquer com direito a testemu-nhos de pessoas que estavam “lá” ou que foram profundamente influenciadas por ela. É relativamente fácil conseguir fundos para a produção de documentários, e não faltam festivais para exibi-los.
Apesar de parte desses documentários feitos em vídeo ser interessante, o que é realmente fascinante é o volume em que são produzidos, se comparado com as narrativas ficcionais tradicionais. O que isso revela a respeito de uma geração que não parece capaz de escrever uma história com personagens ou com uma trama bem estruturada? Enquanto a música se tornou completamente fantasiosa (repleta de compositores e cantores de folk psicodélico cantarolando canções sobre magia e duendes, compositores de música eletrônica propondo sexo com robôs e cantores românticos alternativos lamentando o fim de algum mundo imaginário), os novos diretores estão obcecados em apresentar um retrato da “realidade”. Eles têm uma preocupação apocalíptica de mostrar sua época como a vêm, já que não participam do diálogo oficial surreal que está sendo registrado pela mídia imperialista corrupta.
Saudado por Lênin como “a forma de arte mais importante”, o cinema que, mesmo em plena infância, fascinou o mundo até uma geração atrás, hoje luta pela sobrevivência, relevância, público e até mesmo para voltar a ser objeto de análise e debate. Considerando que o cinema nasceu do capitalismo industrial desordenado, essa condição de crise não é tão estranha. Na verdade, já que a característica principal do capitalismo é a crise perpétua, faz sentido que o cinema—uma lasca do grande bloco—seja marcado pela mesma histeria fabricada típica do sistema que o gerou.
Quando passou a ser mais do que uma simples novidade, o cinema era uma extensão do teatro, uma forma de contar histórias sobre o mundo. Mas, ao contrário do teatro, o cinema foi a contribuição da era industrial para o mundo das artes e assim—diferente de outros meios mais antigos—inevitavelmente lembrava as novas indústrias, como a siderúrgica e petrolífera, com as mesmas divisões de trabalho estratificadas, sindicatos, greves, contratos traiçoeiros, exploração impiedosa e uma elite proprietária de mentalidade monopolista.
Como a propriedade dos meios de produção é a questão central em tais indústrias, as grandes empresas do ramo cinematográfico—Warner Bros. e MGM—garantiram controle total sobre filmes, processos, suprimentos, trabalhadores (atores e diretores eram comprados e presos a contratos) e distribuição a fim de sufocar, destruir ou desencorajar a concorrência.
Assim como o rock em sua fase “clássica”, o cinema nos Estados Unidos era, quase desde o início, uma empreitada cujos custos apenas os estúdios de Hollywood conseguiam bancar, com um punhado de “autores” ilustres responsáveis por oferecer suas novas dádivas a cada temporada. A humanidade foi hipnotizada pelas fábulas que lhes contavam nos cinemas hermeticamente fechados que se encontravam a cada esquina. Tornar-se um participante do “cinema” era um sonho glorioso. Aspirantes a atrizes se jogavam contra o megalito de Hollywood como alimentos sacrificiais, e tornar-se diretor era uma ambição fantasiosa, ridícula, comparável a querer ser presidente ou rei do Universo.
Quando a tecnologia de vídeo proliferou, no início dos anos 80, ela foi, como todas as novas parafernálias da cultura de consumo, saudada como uma revolução para o homem comum. O vídeo era barato e portátil, e não estava sob o monopólio que a indústria cinematográfica mantinha sobre os meios de produção. Agora, qualquer pessoa que tivesse cabeça e ambição podia fazer um filme, e não mais apenas aqueles com conexão no showbiz, vínculos familiares ou disposição para um teste do sofá. Como a maioria dos supostos triunfos do “povo”, era na verdade o resultado do processo de imposição de uma indústria (a indústria eletrônica japonesa) sobre outra (a indústria cinematográfica de Hollywood).
O único problema com o vídeo era sua crueza e feiura. A imagem era tosca, e não tinha a mesma sensibilidade mágica que os espectadores viam na película. Assim, apesar da proliferação em massa quase imediata de câmeras de vídeo, poucos filmes dignos de nota foram produzidos com o novo equipamento. Em vez disso, as hoje onipresentes filmadoras foram relegadas a shows de rock underground até que outro uso—o registro de atos sexuais—fosse descoberto.
Ainda assim, Hollywood respondeu à ameaça da democracia do vídeo, tornando seus meios de produção ainda mais inacessíveis. Os filmes passaram a ser dirigidos por supercelebridades e os efeitos especiais se tornaram cada vez mais sofisticados. A narrativa deixou de ser prioridade em favor das maquiagens dos monstros, das explosões interestelares e das mega-estrelas. Uma vez que a TV a cabo e a locação de vídeos continuava a estraçalhar os lucros das salas de cinema, o desejo de produzir espetáculos se tornou cada vez mais e mais a principal preocupação dos estúdios. Para que um filme fosse lançado no circuito, deveria parecer um passeio de montanha-russa com todos as suas excitações nauseabundas. Cortes de quebrar o pescoço, enquadramentos nervosos, volume de som insuportável e violência explícita e bizarra fizeram muitos filmes, ironicamente, serem inassistíveis. Uma vez ou outra, por descuido, nos vemos em uma sala de cinema, seduzidos por uma enxurrada de propaganda, convencidos de que assistir a um determinado filme é indispensável para a continuidade da nossa educação cultural. Então, humilhados, degradados, insultados e R$ 20 mais pobres, juramos nunca mais cair nessa. Essa lição de vida é aprendida, em média, uma vez por ano. Na verdade, assistir a filmes no cinema é geralmente uma forma de nostalgia.
Esse declínio já vem acontecendo há algum tempo. Jean-Luc Godard afirmou memoravelmente em uma entrevista que, quando descobriu o cinema nos anos 50, este “já estava acabado”. Realmente, nos Estados Unidos de 1946, com uma população de 141 milhões de habitantes, vendia-se 100 milhões de ingressos de cinema por semana—um total de 36,5 bilhões de ingressos no ano. Hoje, com o dobro de habitantes, vendeu-se apenas 1,4 bilhão de ingressos em 2007 em toda a América do Norte (incluindo o Canadá).
Claro, as pessoas ainda assistem passivamente às peças moralistas dos seus mestres, mas agora em casa, na televisão, e a qualidade da imagem já não é mais tão importante. Pressentindo uma oportunidade, os videomakers—pessoas não necessariamente consagradas pelos estúdios—tentaram explorar o enorme potencial de desenvolvimento de uma indústria cinematográfica descentralizada formada por autores de verdade e entusiastas, similar à cena descentralizada dos músicos, artistas plásticos e poetas. Mas a vocação inicial da câmera de vídeo como uma ferramenta documental nunca foi abalada. Tampouco o desdém generalizado por algo que podia filmar qualquer um e que estava ao alcance financeiro de todos. Em uma sociedade cujo desprezo pelos pobres é institucionalizado, o próprio fato de o vídeo ser barato era considerado um defeito.
Por causa das suas raízes no registro de shows e pornografia, o vídeo era considerado uma “verdade”. Por isso, a nova geração de diretores, excluídos do uso de película pelos altos custos, se ocuparam em fazer “documentários” em vez de dramas com suas câmeras de vídeo. Hoje, produz-se documentários em uma escala inacreditável. São, em geral, perfis de alguma pessoa incomum, como um arqueiro sem braços ou um vegetariano que pratica a caça ou uma crítica política sobre alguma guerra ou uma pesquisa histórica em homenagem a uma banda de rock qualquer com direito a testemu-nhos de pessoas que estavam “lá” ou que foram profundamente influenciadas por ela. É relativamente fácil conseguir fundos para a produção de documentários, e não faltam festivais para exibi-los.
Apesar de parte desses documentários feitos em vídeo ser interessante, o que é realmente fascinante é o volume em que são produzidos, se comparado com as narrativas ficcionais tradicionais. O que isso revela a respeito de uma geração que não parece capaz de escrever uma história com personagens ou com uma trama bem estruturada? Enquanto a música se tornou completamente fantasiosa (repleta de compositores e cantores de folk psicodélico cantarolando canções sobre magia e duendes, compositores de música eletrônica propondo sexo com robôs e cantores românticos alternativos lamentando o fim de algum mundo imaginário), os novos diretores estão obcecados em apresentar um retrato da “realidade”. Eles têm uma preocupação apocalíptica de mostrar sua época como a vêm, já que não participam do diálogo oficial surreal que está sendo registrado pela mídia imperialista corrupta.